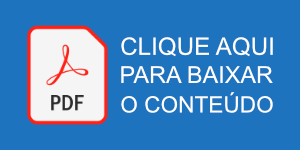O vírus, a China, os EUA e nós
O Brasil perderá se escolher um lado na briga entre Washington e Pequim
Paulo Sotero, O Estado de S.Paulo – 30 de maio de 2020 | 03h00
Por motivos diferentes, Pequim e Washington responderam tardiamente à covid-19. No caso da China, a causa da demora reside no controle político central inerente ao regime, que inibe a transmissão de informações negativas de baixo para cima – no caso, da cidade de Wuhan, onde o flagelo começou, para a capital. Mas o controle central explica também a eficácia com que as autoridades reagiram para conter a propagação do vírus, depois de se darem conta de que estavam diante de uma epidemia, como escreveu Miyamoto Yuji, ex-embaixador do Japão na China, em elucidativo artigo publicado no final de março.
As informações sobre a virulência da covid-19 e sua chegada aos EUA eram conhecidas desde janeiro no governo americano. Mas foram suprimidas, segundo denúncia feita no início do mês pelo médico infectologista Rick Bright, afastado do cargo de diretor da Divisão Biomédica e de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Saúde, por contestar o uso do remédio antimalária cloroquina, receitado publicamente pelo presidente Donald Trump. “Fui pressionado a permitir que a política e o clientelismo orientassem decisões, em detrimento das opiniões dos melhores cientistas que temos no governo”, afirmou Bright, depois de apresentar queixa formal contra a punição que sofreu.
Tendo falhado na resposta à pandemia, que já matou mais de 75 mil americanos, ou um terço do total de vítimas do vírus, Trump agora joga a culpa na China. E encontrou respaldo no chanceler do governo Bolsonaro, o mesmo que já atribuiu à China a responsabilidade pela crise global da mudança climática.
É essencial ter a China em mente na discussão sobre o covid-19, mas por outro motivo. A pandemia acelerou o curso da História e, na certa, encurtará a transição geopolítica do poder mundial para um novo equilíbrio em que aumentará o peso relativo da China e diminuirá o dos Estados Unidos.
O Brasil só tem a perder escolhendo um lado na disputa entre duas potências dominantes, ambas parceiras estratégicas do País. A tarefa que a realidade impõe às lideranças brasileiras é identificar o interesse nacional em cada campo do nosso relacionamento bilateral e multilateral com a China e os EUA e persegui-lo, guiadas por dois propósitos. O primeiro é evitar os efeitos colaterais adversos da confrontação sino-americana. Como me disse o experiente embaixador Gelson Fonseca, quando era chefe da missão do País na ONU, “não devemos entrar em briga de cachorro grande”. O segundo propósito é tirar o melhor proveito possível da briga, falando pouco e apenas o necessário.
É um exercício para o qual nossos políticos, empresários, funcionários e intelectuais se têm mostrado inapetentes e despreparados. Sabemos bem o que não queremos. Mas geralmente falhamos quando se trata de definir objetivos positivos realistas e desenvolver uma visão estratégica – ou seja, de longo prazo – para alcançá-los no contexto da complexa e cambiante realidade internacional.
É urgente superarmos essa dificuldade, até porque a realidade não oferece alternativas. “Diferentemente dos últimos setenta anos, o Brasil se posicionará num mundo em que os Estados Unidos (…) não constituem mais uma liderança inconteste em todas a áreas”, alertou a diplomata e economista Tatiana Rosito na mais recente publicação do Conselho Empresarial Brasil-China. “Preparamo-nos para uma era em que grande parte do poder econômico e político estará centrada em países sobre os quais nosso conhecimento, relações interpessoais e capacidade de mobilização e influência são relativamente escassos.” Poderíamos começar incentivando o estudo da China e do mandarim em nossas escolas e universidades, de modo a estimular e enraizar os laços entre as duas sociedades e torná-los menos dependentes dos governos. A porta parece aberta.
Maior compradora das exportações brasileiras há mais de uma década, a China diz-se pronta para ampliar a cooperação bilateral, a começar pelo combate à pandemia, não obstante as declarações sinofóbicas dos ministros das Relações Exteriores e da Educação e do padrinho de ambos no Planalto, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Em entrevista recente a Patrícia Campos Mello, da Folha de S.Paulo, o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, reduziu os ataques a seu país a “ruídos” e salientou “as histórias comoventes de solidariedade e de ajuda mútua entre os dois povos”.
O desafio maior para o Brasil é se beneficiar de uma relação produtiva com a China sem se distanciar das nações do Ocidente, de que é parte e com o qual compartilha História, cultura e valores. Facilitará a tarefa o provável fracasso de Trump nas eleições de novembro, já visível nas pesquisas de opinião e implícito nas projeções de universidades e entidades oficiais sobre o número de mortos pelo vírus da pandemia nos próximos meses. Sem o distanciamento social, que começa a ser relaxado, dados do próprio governo indicam que os óbitos podem dobrar para 140 mil até o fim de julho e mais do que triplicar até o fim do ano.
ARTIGO370