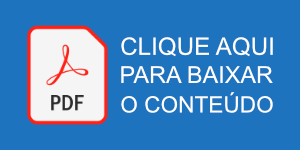Ativismo de CEOs é negócio arriscado nos Estados Unidos
Empresas costumavam manter distância da política, mas nos últimos anos seus executivos têm se manifestado; algum dia, as diretorias das empresas poderão se tornar tão ativistas quanto o chão da fábrica
The Economist, 17 de abril de 2021
TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL, O Estado de S. Paulo, 17/04/2021
Se você é um símbolo da harmonia americana, como a Coca-Cola, suas cartadas políticas são cuidadosas, especialmente em relação a temas tão polarizadores como raça e eleições. Foi assim que a fabricante de refrigerantes agiu, brilhantemente, em 1964, quando a elite de Atlanta – lar da Coca-Cola e de Martin Luther King – ameaçou esnobar o líder da defesa dos direitos civis em seu retorno da viagem na qual recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Aterrorizados com o potencial constrangimento, executivos e ex-executivos da Coca-Cola trabalharam silenciosamente nos bastidores para persuadir outros chefes da indústria a comparecer ao jantar em honra a King.
A Coca-Cola também interveio este ano, antes e depois de Brian Kemp, o governador republicano da Geórgia, sancionar uma nova lei, em 31 de março, que segundo críticos inibiria a participação de negros em eleições. Os discretos esforços da empresa para amenizar alguns aspectos do projeto de lei antes de sua aprovação saíram pela culatra duas vezes. Primeiramente, grupos de defesa dos direitos civis acusaram-na de falta de coragem. Subsequentemente, quando seu diretor executivo, James Quincey, se juntou a outras empresas de Atlanta, como a Delta Air Lines, que expressaram descontentamento com o resultado, republicanos qualificaram a Coca e as outras firmas de hipócritas “lacradoras”.
Em 14 de abril, centenas de empresas, incluindo gigantes como Amazon e Google, e grandes personalidades do mundo dos negócios, entre eles Warren Buffett, publicaram uma carta se opondo a “qualquer legislação discriminatória” que dificulte o voto. Um signatário proeminente, Kenneth Frazier, da Merck, uma farmacêutica, disse ao The New York Times que sua mensagem era apartidária. Nas palavras de William George, da Faculdade de Administração de Empresas de Harvard, ele mesmo um ex-diretor executivo, a supressão de eleitores “coloca a democracia em risco, o que coloca o capitalismo em risco”.
Coca-cola
Coca-Cola persuadiu chefes da indústria para comparecer a jantar em honra a Martin Luther King. Foto: Andrew Yates/Reuters
Republicanos, que têm pressionado pelos projetos de lei em resposta à grande mentira de Donald Trump, segundo a qual um segundo mandato presidencial lhe foi negado por uma fraude generalizada, qualificam o dedo em riste das corporações como uma manobra puramente política. Entretanto, o fato de tantas marcas famosas e tantos executivos poderosos apontarem seus dedos para o Partido Republicano, tradicionalmente favorável aos negócios, mostra que os empresários estão dispostos a romper um código de silêncio em relação à política que serviu bem aos propósitos das corporações desde o nascimento do capitalismo americano. Por quê? E que efeito isso surtirá, em última instância, nos negócios?
O mundo corporativo americano foi construído em cima de uma inovação jurídica: a sociedade anônima de responsabilidades limitadas. Originalmente, as estruturas corporativas ainda precisavam garantir a chancela do governo para poder operar, o que com frequência significava ter de molhar a mão de vários funcionários públicos. Uma sucessão de decisões judiciais tomadas na primeira metade do século 19 permitiu às empresas ficar longe da política. Posteriormente, as firmas precisaram somente de sua ambição e investidores bem dispostos. O resultado foi o ambiente de negócios mais favorável de todos os tempos.
Redescobrindo a política
No início do século 20, alguns chefes redescobriram a política, usando o patrimônio das empresas para comprar amigos no governo. Após a 2.ª Guerra, a porta entre a indústria e os cargos políticos não ficava mais entreaberta, e sim escancarada.“Electric Charlie” Wilson, chefe da General Electric, e “Engine Charlie” Wilson, chefe da General Motors, trabalharam em vários governos nas décadas de 1940 e 1950. O período até os anos 1960 foi um tempo de “poder compensatório”, nas palavras de John Kenneth Galbraith, um implicante economista. Grandes empresas mantinham um alinhamento bem equilibrado com o governo federal e os principais sindicatos. Alguns diretores executivos se comportavam como estadistas da indústria, oferecendo empregos vitalícios aos trabalhadores, construindo povoados e campos de golfe e apresentando-se como guardiães da sociedade.
Esse equilíbrio foi abalado em 1970 por Milton Friedman, ganhador de Prêmio Nobel e defensor do liberalismo econômico. Ele argumentava que a única obrigação dos executivos era em relação aos acionistas. Contanto que os mercados fossem livres e a competição, feroz, maximizar os ganhos dos acionistas seria benéfico para a sociedade, garantindo melhores produtos para os consumidores e melhores condições para os trabalhadores. Empresas que fracassassem em qualquer das instâncias veriam clientes e empregados migrar para seus concorrentes. Republicanos como Ronald Reagan adotaram as teorias de Friedman ao diminuir o tamanho do governo e desregulamentar a economia. Isso ocasionou, nas décadas de 1980 e 1990, a ascensão de empresas ao estrelato e o culto à personalidade de diretores executivos, que viraram celebridades.
Ainda assim, homens de negócios seguravam a língua ao tratar de política. Em vez disso, confiavam em lobistas bem pagos e usavam entidades que representam a indústria, como a Business Roundtable, para advogar em seu nome. O lobby se dedicava quase que exclusivamente a assuntos relativos aos seus objetivos enquanto setor, como impostos, regulações e políticas imigratórias que pudessem afetar seus empregados. Os lobistas se mantinham cuidadosamente distantes de agitações políticas mais abrangentes.
O dinheiro das corporações continua a fluir na política. Nos anos recentes, porém, ele vem acompanhado de um fluxo de diretores executivos ativistas. Segundo a Weber Shandwick, uma empresa de relações públicas, esse fenômeno ocorre desde 2004, quando Marilyn Carlson Nelson, chefe das Carlson Companies, uma agência de viagens, se posicionou publicamente contra o tráfico sexual. Outros chefes de empresas de viagens consideraram que os posicionamentos dela prejudicariam a imagem de neutralidade da indústria. Em vez disso, ela foi tratada como heroína pelos clientes. Diretores executivos de outras empresas tomaram nota.
Cautelosos no início – e com mais visibilidade nos cinco anos mais recentes –, eles começaram a opinar a respeito de variados temas, como os movimentos #MeToo e Black Lives Matter, legislações que garantem liberdade religiosa, controle de armas, direitos dos gays e projetos de lei que regulamentam o uso de banheiros por pessoas transgênero. As ações polarizadoras de Trump, como a proibição à entrada nos EUA de pessoas vindas de alguns países muçulmanos, a retirada do país do Acordo de Paris a respeito do clima ou a reação dele aos protestos racistas em Charlottesville, causaram indignação em todo o mundo corporativo americano (mesmo enquanto ele aplicava seus cortes de impostos).
Confiança
O mandato de Trump também coincide com um período no qual a confiança do público no governo já estava em declínio, enquanto aumentava em relação às empresas. Apesar da imagem do mundo corporativo dos EUA de servo do capitalismo selvagem, os americanos confiam um pouco mais nas empresas do que no governo ou em ONGs. A Edelman, outra firma de relações públicas, constatou que, para 63% dos americanos, diretores executivos deveriam assumir a frente quando governos não solucionam problemas sociais. Considerando esse apelo, em agosto de 2019, membros da Business Roundtable, entre eles diretores de 150 importantes firmas do índice S&P 500, prometeram levar em conta não apenas acionistas, mas também funcionários, fornecedores, clientes, meio ambiente e outros envolvidos ao tomar suas decisões corporativas.
O problema com esse ativismo entre diretores executivos é a falta de claridade a respeito de suas motivações e do impacto dessas ações – tanto nos negócios em si, como nas causas que eles defendem. Apesar de grande parte deles ter provavelmente boas intenções, esse ativismo é manchado por suspeitas de hipocrisia e ostentação. Antes do Natal, a North Face rejeitou um pedido de uma empresa petroleira do Texas de 400 das suas mais caras jaquetas, porque não queria sua marca associada a combustíveis fósseis. Este mês, um conglomerado da indústria petroleira com base no Colorado laureou a empresa com um irônico “prêmio de cliente extraordinário”. O grupo empresarial ressaltou que muitos dos produtos da marca de roupas de aventura são fabricados com derivados do petróleo – incluindo suas jaquetas.
Em seu devido tempo, os próprios acionistas podem se tornar mais políticos. A ascensão dos fundos de investimentos que levam em conta fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) sugere um apetite por certas formas de posicionamento social na alocação de capital. Investidores ESG com frequência estão dispostos a aceitar retornos mais baixos de obrigações de empresas que respondem a algum tipo de métrica em relação a boas políticas. Após estudar por dez anos propostas de interesse público nas empresas do S&P 500, abrangendo temas de todo tipo, de desigualdade econômica a bem-estar animal, Roberto Tallarita, também da Faculdade de Direito de Harvard, constatou que praticamente nenhuma dessas moções é aprovada. Mas o apoio a elas está em ascensão. Em 2010, 18% votavam a favor delas, em média. Em 2019, esse posicionamento tinha aumentado para 28%. Algum dia, as diretorias das empresas poderão se tornar tão políticas quanto o chão da fábrica. Até lá, a pregação dos diretores executivos tende a ficar cada vez mais ruidosa.
© 2021 THE ECONOMIST NEWSPAPER LIMITED. DIREITOS RESERVADOS. PUBLICADO SOB LICENÇA. O TEXTO ORIGINAL EM INGLÊS ESTÁ EM WWW.ECONOMIST.COM
ARTIGO712