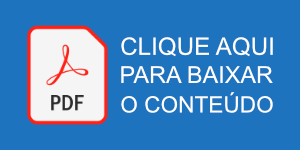Marinhas viram protagonistas das batalhas do século 21
The Economist, tradução Guilherme Russo, O Estado de S.Paulo, 04/02/2024
Competir numa era de poder marítimo exigirá uma mudança de mentalidade
Os oceanos voltaram a ter importância na geopolítica. No Oriente Médio, o grupo rebelde Houthi ameaça o frete pelo Mar Vermelho, perturbando o comércio global. Desde 12 de janeiro, EUA e Reino Unido lançaram vários ataques contra mais de 60 alvos houthi no Iêmen. Os ataques dos aliados são uma tentativa de reafirmar a liberdade de navegação numa artéria crucial do comércio mundial, mas também expandem dramaticamente o escopo geográfico do conflito no Oriente Médio. Taiwan acaba de passar por uma eleição capaz de moldar seu futuro. Um conflito pela ilha envolveria uma intensa guerra naval sino-americana que se ampliaria para muito além do Pacífico. E na Europa a guerra na Ucrânia pode se transformar numa disputa naval pelo Mar Negro e pela Crimeia. O poder marítimo está de volta.
Há fatores positivos nas Marinhas ocidentais nesta nova era. Os EUA e seus aliados ainda possuem os submarinos mais modernos e são vinculados em alianças navais e parcerias não igualadas por Rússia ou China. Mas seu domínio naval está erodindo. A Marinha chinesa é hoje a maior do mundo. Os estaleiros americanos mirraram. E as Marinhas europeias são uma sombra do que já foram, perdendo 28% de seus submarinos e 32% de suas fragatas e seus destróieres entre 1999 e 2018.
Tratam-se de tendências desalentadoras. Apesar do protecionismo crescente, os mares continuam uma via vital da economia mundial. Em 2023, o ClarkSea, um índice da média de ganhos diários das frotas de frete marítimo global, estava 33% acima de sua tendência em 10 anos. O comércio marítimo tinha crescido 3%, para 12,4 bilhões de toneladas, e a construção naval aumentara em 10%: a China era responsável por quase a metade da produção pela primeira vez. Cerca de 80% do comércio global em volume é transportado pelo mar; e em termos de valor, 50%.
Não faltam lembretes a respeito do que acontece quando esse fluxo é perturbado. A pandemia de covid-19 provocou caos nas cadeias de fornecimento em 2020, assim como o bloqueio do Canal de Suez, um ano depois, pelo Ever Given, um navio de contêineres. A invasão da Rússia à Ucrânia, em 2022, causou estrago no mercado mundial de grãos. E os ataques de mísseis dos houthis nos meses recentes no Mar Vermelho – um fenômeno completamente diferente da infestação de piratas de baixa tecnologia nas décadas de 2000 e 2010 – fizeram com que os custos do frete da Ásia à Europa triplicassem conforme as rotas são alteradas para contornar a África do Sul.
CABOS SUBMARINOS. Artérias marítimas não transportam apenas mercadorias físicas. A firma de análise de dados TeleGeography conta mais de 574 cabos submarinos, ativos ou planejados, de empresas de telecomunicações de todo o mundo, responsáveis por 97% do tráfego de internet no planeta. A guerra na Ucrânia e as tensões resultantes sublinharam o risco geopolítico para essa infraestrutura. Em 2022, os gasodutos Nordstream 1 e 2, que atravessam o Mar Báltico, foram explodidos por sabotadores não identificados. Um ano depois, cabos de dados entre Estônia, Finlândia e Suécia foram cortados misteriosamente.
Além de se situarem no coração da ordem internacional, os oceanos constituem o ambiente em que desafios a essa ordem se desdobram. O cerne da rivalidade sino-americana trata do domínio sobre os mares asiáticos. Os EUA e seus aliados estão dando as mãos para contestar as reivindicações da China sobre o Mar do Sul da China e acompanhar os movimentos de sua crescente frota de submarinos e navios. A Marinha do Exército de Libertação Popular (MELP) está constituindo grupos de ataque com portaaviões – a construção de seu terceiro porta-aviões fabricado domesticamente, o Fujian, está quase concluída – e aumentando a magnitude e a frequência dos exercícios navais em torno de Taiwan. A força naval chinesa também busca posicionar-se em portos de todo o mundo, das Ilhas Salomão à Guiné Equatorial, aos Emirados Árabes Unidos.
A geopolítica no mar distingue-se de várias maneiras, observa Alessio Patalano, da King’s College London. Exércitos são enviados para lugares específicos, cumprem missões e retornam. Uma missão de treinamento raramente se transforma em guerra. Navios de guerra, em contraste, são acionados em jornadas com finalidade em aberto, cujo propósito pode mudar em um instante. Uma embarcação pode fazer escala num porto amigo num dia e interceptar mísseis houthi no dia seguinte.
Além disso, os oceanos são ambientes naturais para a competição. O alto-mar é feito de águas internacionais. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) garante aos países zonas econômicas exclusivas de 370,4 quilômetros a partir de suas costas, mas é ambígua sobre detalhes. Os EUA não são signatários da UNCLOS; a China desconsidera provisões críticas. Exércitos em tempos de paz raramente encontram-se em meio a nevoeiros desse tipo.
FERRAMENTA MALEÁVEL. Ao mesmo tempo, poder naval é uma ferramenta maleável de relações internacionais, porque pode resistir a escaladas acentuadas. Numa crise em terra, tropas podem receber reforços de novos soldados rapidamente. No mar, enviar forças para um ponto de atrito leva mais tempo. A atribuição – dar-se conta de quem atacou quem – também demora mais. É menos provável, portanto, que crises navais escalem para derramamentos de sangue. Patalano cita a decisão da Coreia do Sul de demonstrar comedimento após um submarino norte-coreano atacar e afundar um de seus navios de guerra, em 2010.
Mas o mar é fundo. O ritmo relativamente mais vagaroso dos confrontos navais – assim como suas ambiguidades inerentes – ajuda a explicar por que a China tem usado frotas de pesca militarizadas para intimidar vizinhos no Mar do Sul da China. O exemplo mais recente envolve as Filipinas, onde embarcações chinesas intimidaram e avançaram contra navios filipinos que tentavam reabastecer o Segundo Atol de Thomas, um pequeno arrecife reivindicado pela China. Em 3 de janeiro, os EUA responderam enviando um porta-aviões para exercícios conjuntos com as Filipinas.
Esse boxe nas sombras em tempos de paz tem um caráter ameaçador. Na era do pósGuerra Fria, os oceanos se tornaram uma “via benigna para a projeção de poder”, afirma Nick Childs, do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), um grupo de análise em Londres. As Marinhas americana e britânica bombardearam o Afeganistão e o Iraque ao bel-prazer. Ocasionalmente, caçaram piratas. “Agora, estamos de volta a uma nova era em que pessoas estão tendo de se preparar para possíveis guerras no mar”, afirma Childs. Esse território é desconhecido. O último oficial que serviu na Guerra das Malvinas, entre Reino Unido e Argentina, a última grande guerra naval travada por um país da Otan, se aposentou há muito.
Para combater algozes mais robustos, os navios estão ficando maiores e mais bem armados, nota Patalano, apontando para o exemplo do Francesco Morosini, um barco de patrulha da Marinha italiana. Essas embarcações de defesa costeira costumavam ser pequenas. Mas esses novos barcos com frequência têm o mesmo tamanho que as fragatas dos anos 90 e são equipados com sistemas de defesa antiaérea e armamentos mais pesados. A próxima geração de destróieres americanos é capaz de carregar um terço a mais de mísseis do que a atual.
O prospecto da guerra naval de alta intensidade também eleva a importância dos submarinos. Vigilância moderna e armas guiadas de precisão colocam grandes navios de superfície em risco cada vez maior, particularmente nas proximidades de costas inimigas. Submarinos são muito menos vulneráveis a isso, seus movimentos e missões são normalmente envoltos em segredo, e eles são capazes de entrar furtivamente em águas inimigas para coletar inteligência eletrônica ou transportar forças especiais, rastrear frotas inimigas no mar sem ser detectados ou ficar submergidos durante uma crise com capacidade para disparar saraivadas de mísseis. Os submarinos americanos da Classe Ohio são capazes de carregar até 154 mísseis de cruzeiro, 26% mais do que o barco de superfície mais bem armado dos EUA.
PRIMAZIA. A guerra submarina é particularmente importante porque é sob as águas que o Ocidente tem maior primazia tecnológica sobre Rússia e China; ambos os países têm capacidade limitada de detectar, rastrear e mirar submarinos americanos e aliados. Isso explica por que uma potência mediana como a Austrália está disposta a gastar centenas de bilhões de dólares em três décadas adquirindo submarinos nucleares americanos e construindo submarinos nucleares novos com o Reino Unido. O pacto AUKUS, entre os três países, foi anunciado em 2021. O projeto do submarino da Classe AUKUS também demonstra uma crescente ênfase em poder de fogo. Ao contrário do atual submarino de ataque britânico, o submarino da Classe AUKUS terá um sistema de lançamento vertical (VLS) e tubos verticais com muito mais mísseis e mais avançados do que os tradicionais tubos de torpedos.
As guerras na Ucrânia e no Oriente Médio mostram como essas armas podem ser colocadas em uso num grande conflito no mar. A Rússia minou as águas ucranianas e disparou mísseis contra navios cargueiros atracados em Odessa. Os houthis dispararam drones e mísseis balísticos contra embarcações comerciais e conseguiram tomar pelo menos uma.
Táticas de bloqueio são de profundo interesse porque seriam cruciais para qualquer guerra na Ásia. “Se houver uma guerra por Taiwan”, escreve o ex-analista de China da Agência de Inteligência de Defesa Lonnie Henley, “um bloqueio chinês estendido deverá determinar o desfecho”. Um artigo de Michael O’Hanlon, da Brookings Institution, em Washington, simula um conflito no qual a China bloqueia a ilha exigindo que todos os navios que desejarem visitar Taiwan aportem na China continental para inspeção. Para entender os possíveis desafios adiante, vale a pena escrutinar o artigo.
Nesse cenário, uma coalizão liderada pelos americanos de aproximadamente cem navios de guerra tenta romper o bloqueio abrindo uma via marítima centenas de quilômetros a leste de Taiwan. Levaria pelo menos um mês para desativar água minadas, estima O’Hanlon, e mais tempo se a China for capaz de acionar minas avançadas, capazes de se reposicionar autonomamente. EUA e Taiwan teriam de subsidiar pagamentos de seguro, mudar bandeiras de navios cargueiros ou prometer reembolsar proprietários se suas embarcações fossem afundadas. Os países também precisariam encontrar tripulações dispostas a atravessar uma zona de guerra. “Provavelmente muitas centenas de tripulantes morreriam”, conclui o artigo.
De fato, afirma Henley, reabrir vias marítimas ao leste da ilha não seria suficiente. Os portos na costa leste de Taiwan são isolados por montanhas altas e estradas estreitas, que dependem de túneis vulneráveis. Mesmo que destruíssem a frota chinesa em batalha, os EUA ainda teriam de levar centenas de toneladas de carga para os principais portos de Taiwan, no oeste, todos os dias, por meses, “encarando minagem intensa e fogo hostil próximo da China e sob condições de superioridade aérea chinesa”. Abastecimento por via aérea provavelmente seria impossível, acrescenta ele.
O almirante indicado para se tornar o próximo comandante do Comando do IndoPacífico dos EUA, Samuel Paparo, insiste que os americanos seriam capazes de romper um cerco chinês: “Os EUA têm capacidade plena de, sozinhos, romper um bloqueio desse tipo”. O’Hanlon não está tão certo. Seus cálculos sugerem que os desfechos são “difíceis de prever”. Henley é ainda mais pessimista. Os EUA criaram uma Marinha construída para derrotar uma ofensiva chinesa em Taiwan, alerta ele, não uma força capaz de romper um bloqueio de portos e aeroportos taiwaneses por períodos prolongados: “Nós não somos capazes de vencer com a força que estamos construindo atualmente”.
A capacidade de explorar o poder marítimo tem vantagens tanto quanto desvantagens. Taiwan é vulnerável a um bloqueio porque depende de importações de energia e produtos agrícolas que lhe chegam por via marítima. Mas a China também tem de importar por via marítima a maioria de seu petróleo, assim como matérias-primas. Uma opção retaliatória seria um bloqueio “estreito”, nas proximidades de portos chineses, atacando navios e minando águas – da mesma forma que a Rússia faz contra a Ucrânia. Isso, contudo, apresentaria muitos dos mesmos problemas enquanto esforço para abrir os portos taiwaneses, incluindo o risco de uma escalada nuclear cair dos céus contra a China continental.
Uma abordagem mais fácil e segura poderia ser um bloqueio “distante”: parar navios que rumam à China em gargalos como o Estreito de Ormuz ou o Estreito de Malaca. Fiona Cunningham, da Universidade da Pensilvânia, calcula que a Marinha dos EUA tem tamanho suficiente para interceptar apenas um quarto das embarcações mercantes que atravessam os estreitos do Sudeste Asiático. Segundo seu cálculo, levaria um mês para impor o bloqueio, que precisaria ser sustentado por pelo menos seis meses para causar desabastecimentos de itens civis e militares na China.
Um bloqueio desse tipo demonstraria dois aspectos importantes do poder marítimo. Um é que ele depende de alianças globais da mesma forma que numa era anterior dependeu de impérios globais. Indonésia, Malásia, Papua Nova Guiné, Cingapura e outros parceiros na região teriam de permitir que os EUA usassem suas águas e aeroportos, nota Cunningham. O outro é que a natureza multinacional do frete marítimo moderno representa um desafio severo para quem pretende bloquear, tendo de decidir que barco parar e qual deixar passar.
O Ever Given, por exemplo, era construído e operado por japoneses, mas fora alugado por uma empresa taiwanesa, tinha tripulação indiana e transportava mercadorias da China para a Europa.
Bloqueios também mostram como a tecnologia está mudando a arte da guerra naval. Minas robóticas são capazes de se mover, o que torna mais fácil instalá-las. “Muitos bloqueios poderiam ser feitos por veículos não tripulados”, sugere o diretor do Centro de Estudos Estratégicos da Marinha Britânica, Kevin Rowlands. Operações cibernéticas poderiam inspecionar documentações e rotas, acrescenta ele. Por outro lado, a Ucrânia ilustrou como drones também são capazes de atacar uma frota que impõe um bloqueio.
Apesar de ter usado amplamente antigos mísseis antinavio, armas que provaram seu valor mais de 40 anos atrás na Guerra das Malvinas, a Ucrânia também empregou veículos de superfície não tripulados (VSNTs) – essencialmente drones navais – para atacar repetidamente embarcações russas no Mar Negro e portos na costa da Crimeia e da Rússia. Em 4 de janeiro, um VSNT esteve a 3 quilômetros de navios de guerra americanos e de várias embarcações mercantes antes de explodir.
Quase todas as grandes Marinhas planejam operar grandes frotas de VSNTs no futuro juntamente com navios tripulados. A tecnologia avança mais aceleradamente que a lei. Grande parte do que é relevante no direito do mar foi formulado mais de um século atrás, afirma a comandante Caroline Tuckett, a mais graduada conselheira da Marinha britânica sobre direito internacional. Mesmo em tempos de paz, a UNCLOS, adotada em 1982, estabelece obrigações – como dar assistência a marinheiros em apuros – ao “mestre” de uma embarcação ou oficial comandante de um navio de guerra. Um VSNT navegando autonomamente não tem nem um nem outro.
Céticos argumentam que o impacto militar dos VSNTs tem sido exagerado. Fogo básico, bem mirado, é capaz de destruir muitos deles. Novos armamentos, como sistemas de armas laser, poderiam favorecer ainda mais os defensores. Não obstante, o capitão Rowlands argumenta que uma mudança estrutural se operou na natureza do poder marítimo. “Ter Marinha costumava ser algo muito caro”, afirma ele. “Havia grandes barreiras para entrar, agora não há. Você não precisa ter uma Marinha magistral, com destróieres de 2 bilhões de libras, para exercer influência no mar.”
Talvez não. Mas em uma competição global pelos oceanos incursões guerrilheiras não bastam. Além disso, o estresse sobre navios de guerra maiores, mais bem armados e mais caros, ocasionou menos quantidades dessas embarcações. A Marinha britânica, que no passado dominou os oceanos de todo o planeta, logo terá meros 16 destróieres e fragatas. No total, a força possui apenas 70 navios. Num período de apenas um ano, de 2022 a 2023, o esquema cresceu em cerca de 30 navios, dos quais 15 eram classificados pelo Pentágono como “grandes combatentes de superfície”. Um slide do ano passado produzido pelo Escritório de Inteligência Nacional, que é um ramo da Marinha americana, mostrou a China com 50% a 55% mais navios de guerra que os EUA até 2035.
A guerra da Rússia na Ucrânia demonstrou que guerras de desgaste exigem massa e escala. Isso é ainda mais pronunciado no mar. Novos soldados podem ser convocados, e tanques guardados podem ser reformados. Essas escolhas não estão abertas às Marinhas, afirma Patalano; substituir um único navio de guerra leva de três a cinco anos. O reaprovisionamento é caro, difícil e vagaroso.
Se uma guerra durar tanto quanto, os EUA ficarão em desvantagem. Os estaleiros chineses têm capacidade para mais de 21 milhões de toneladas brutas, uma medida de volume dos navios, de acordo com estimativas da inteligência americana. Os EUA são capazes de administrar menos de 100 mil, mas seus aliados Japão e Coreia do Sul ajudariam de alguma forma a suprir esse lapso. A Marinha americana sofre de “uma enorme desconexão” entre o que precisa e o que tem persuadido o Congresso e os contribuintes americanos a financiar, afirma Emma Salisbury, da Faculdade de Birkbeck, em Londres. Ela nota que a fatia da Marinha britânica do orçamento de defesa tem permanecido estável, em cerca de um terço, há 50 anos.
MUDANÇA DE MARÉ. Competir numa era de poder marítimo requererá não apenas Marinhas grandes e capacidade para construí-las, mas também uma mudança de mentalidade. A diplomacia terá de colocar foco em portos, alianças marítimas e rotas comerciais. Será necessário recrutar e treinar marinheiros em números muito maiores. Os EUA terão de ressuscitar sua frota de Marinha Mercante para ter qualquer esperança de mover tropas e equipamentos suficientes para uma guerra no Pacífico.
Em seu livro sobre a Batalha da Jutlândia, o combate naval inconclusivo da 1.ª Guerra, o historiador Andrew Gordon buscou explicar o que saiu errado para a Marinha britânica. O problema, concluiu ele, foi o “longo e calmo sotavento de Trafalgar”. A vitória naval britânica sobre Napoleão, em 1805, abriu caminho para um longo período de complacência e deriva. Em 1916, nenhum almirante britânico tinha travado uma guerra grande. O comando dos mares foi tido como certo por anos pela elite militar – o que ressoa até hoje. “Nós estamos vendo o longo e calmo sotavento da 2.ª Guerra”, alerta Childs. Mas as águas agitadas do Mar Negro, do Mar Vermelho e do Mar do Sul da China sugerem que agora uma tempestade se aproxima.
ARTIGO1012