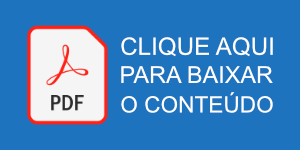Crescimento econômico, democracia e federalismo
No dia 27 de novembro de 1937, na extinta praia do Russel, onde hoje se encontra parte do aterro do Flamengo no Rio de Janeiro, a primeira de uma série de cerimônias públicas em celebração ao Estado Novo transcorreu.
Uma gigantesca bandeira brasileira foi estendida por trás de um altar a céu aberto. A cerimônia foi conduzida pelo arcebispo do DF. Três mil crianças com uniformes escolares cantaram sob a regência do maestro Villa-Lobos. Autoridades civis e militares cortejaram o presidente, Getúlio Vargas, juntamente com uma enorme multidão.
Após o discurso de Vargas, bandeiras nacionais em substituição às dos 20 Estados, DF e território do Acre foram hasteadas em preparação ao que seria o ponto culminante da celebração: jovens conduziram em fila as tradicionais bandeiras regionais para junto de uma pira, sendo as bandeiras incineradas individualmente.
Com a crise de 1929, diferentes nações buscaram concentrar os poderes na mão do Poder Executivo e, onde cabível, no governo central. Tal fenômeno ocorreu até mesmo nos EUA, com a criação de diversos programas federais. No entanto, se nos EUA a Suprema Corte e o Congresso estabeleceram limites que impediram a deformação do sistema, no Brasil de Vargas, sem sistema de freios e contrapesos, o federalismo instituído pela Constituição de 1891 foi queimado em praça pública.
Atualmente, com a maior crise econômica da nossa histórica em conjunto com o pífio desempenho da economia desde a redemocratização, cresce a busca por um novo caminho. Como a reconstrução do federalismo pode auxiliar no desenvolvimento do país? É possível responder a questão através de três argumentos: competição, inovação e eficiência.
Primeiramente, o federalismo promove a competição entre os governos subnacionais. Não havendo um governo central que forneça recursos e socorra os Estados em dificuldades, resta-lhes promoverem contas públicas saudáveis e um ambiente favorável de negócios.
O Estado ou município que decidir adotar linha contrária observará a migração de capital, de credores e de trabalhadores e, consequentemente, a perda de arrecadação e de qualidade do serviço público. Dentro de um sistema competitivo democrático, a migração de votos do incumbente para a oposição é a consequência natural.
No Brasil, como as normas e instituições são majoritariamente nacionais, os Estados têm dificuldade de competir. Além disso, como os recursos advêm em grande parte da União, os incentivos na adoção de práticas pró-mercado são limitados. Para a elite local, muitas vezes é melhor manter práticas populistas e ao mesmo tempo construir fortes laços de dependência com o governo federal. A dualidade sobre a reforma da Previdência pelos governadores do Nordeste é consequência destes incentivos.
A capacidade de promover inovação institucional é outro argumento favorável. Nos EUA, os governos subnacionais são laboratórios de inovação. A regulação de produtos e serviços, seguro desemprego, l eis de combate à discriminação e proteção ambiental começaram com experiências locais exitosas que se espalharam pelo país antes de serem adotadas pelo governo federal. A competição entre os governos subnacionais é potencializada pela liberdade em inovar.
No Brasil, a concentração das atribuições normativas na União limita o surgimento de experiências bem-sucedidas. Em destaque, desde a era Vargas, o direito administrativo relacionado à contratação de pessoas, bens e serviços possui regras gerais de caráter nacional, que só podem ser modificadas pela União. O mesmo ocorre com as normas que regulam o orçamento.
A crise dos governos subnacionais provocada sobretudo pelo crescimento das despesas com pessoal é agravada pela falta de alternativas para reversão da trajetória. Não é sem razão que, apesar de recém-eleitos, muitos governadores não promovem ajustes fiscais relevantes por conta própria.
A descentralização torna os governos mais capazes de responder de forma eficiente às demandas da população. É natural que em um país como o Brasil haja diferenças de prioridades entre as regiões. A centralização dificulta o poder público de apresentar soluções adequadas para cada caso. Um bom exemplo é o estabelecimento em sede constitucional de gastos mínimos elevados e segregados para saúde e educação, em um país com enorme heterogeneidade demográfica por região.
O governo Bolsonaro possui o mérito de trazer para a pauta de discussão nacional o federalismo. Porém, simplesmente distribuir recursos para os Estados em troca de ajuste fiscal é estratégia falida. É fundamental que prerrogativas reservadas à União sejam repassadas aos Estados. Isto significa na prática que se um estado enfrenta dificuldades financeiras, este deveria ter autonomia orçamentária e liberdade para reduzir o quadro de pessoal, decidindo em quais casos a estabilidade do servidor é adequada.
O federalismo clássico aposta na capacidade das localidades de encontrarem soluções próprias aos seus desafios ao invés de esperar uma solução vinda do centro. Neste sentido, democracia e economia podem se beneficiar de um modelo mais descentralizado de país.
André Senna Duarte é economista da Truxt Investimentos, mestre em economia pela PUC-Rio e advogado E-mail: andre.duarte@truxt.com.br
Este artigo reflete as opiniões do autor, e não do jornal Valor Econômico. O jornal não se responsabiliza e nem pode ser responsabilizado pelas informações acima ou por prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações.
Fonte: Jornal Econômico. Por André Senna Duarte
ARTIGO73