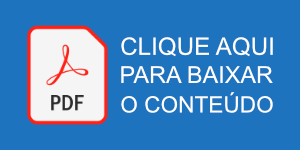A longa história de um conflito
Eurípedes Alcântara, O Estado de S. Paulo, 14/01/2024
Os ataques terroristas sofridos por Israel em 7 de outubro e a invasão por terra da Faixa de Gaza reabriram feridas nunca cicatrizadas totalmente.
Setenta e cinco anos depois de sua criação, Israel está de volta ao núcleo central dos questionamentos internos e externos que marcaram sua existência. 126 anos depois de ser proposto, o sionismo voltou a se confrontar com suas contradições históricas, tendo como palco, dessa vez, a opinião pública mundial.
Vamos revisitar aqui as questões históricas, morais, étnicas, religiosas, geopolíticas e militares do sucesso que teve, no final do século 19, um grupo obstinado de judeus europeus em conseguir viabilizar a criação de uma nação destinada a sofrer as dores de conectar o Oriente ao Ocidente e as tensões de ligar o passado ao futuro.
No alvorecer do século 20, existiam cerca de 11 milhões de judeus no mundo. Desses, cerca de 7 milhões estavam em países da Europa Oriental, 2 milhões na Europa Central e Ocidental, 1,5 milhão haviam cruzado o Atlântico rumo aos Estados Unidos. Em toda a Ásia, Norte da África e no Oriente Médio os judeus eram pouco mais de 1 milhão de pessoas. Só nos Estados Unidos e na Europa Ocidental os judeus podiam obter direitos de cidadania como qualquer outro morador.
Na Rússia, eram perseguidos, espancados, mortos e expulsos de suas casas nos notórios “pogroms”, mantidos por Moscou como política de Estado. Na Polônia e em outros países eram discriminados. Nos países islâmicos, tolerados como cidadãos de segunda classe, pagavam impostos mais altos e sofriam penas mais duras quando acusados de crimes.
Em todos os países, mesmo naqueles onde os judeus eram legalmente emancipados, o antissemitismo latente predominava, mudando apenas a intensidade dos periódicos surtos de violência. No entanto, desde que um judeu aceitasse ser assimilado pela sociedade onde vivia, abandonando a prática de sua religião (pelo menos em público) e muitos de seus hábitos culturais, ele poderia galgar postos relevantes na economia e na política – especialmente, na Inglaterra.
Foi o caso de personagens ocultos do sionismo, judeus assimilados que se tornaram três dos mais poderosos homens de seu tempo no Império Britânico: Benjamin Disraeli, o primeiro-ministro predileto da rainha Vitória e dois lordes da família de banqueiros Rothschild.
Ao primeiro deles, em 1875, Lionel Nathan de Rothschild, Disraeli mandou um bilhete através de seu secretário particular informando-o de que o tesouro de sua majestade requisitava a soma de 4 milhões de libras (naquela época equivalente a mais de 5% de todo o orçamento anual do governo britânico) com o objetivo de adquirir o Canal de Suez. O crédito foi aprovado no mesmo dia.
Disraeli foi o único primeiro-ministro a quem a rainha Vitória permitia que se sentasse diante dela durante os despachos semanais. A um desafeto na Câmara dos Lordes que o “acusou” de ser judeu, Disraeli disse a frase que ficou famosa: “Sim, sou judeu, e quando os ancestrais do nobre cavalheiro eram selvagens brutais em uma ilha desconhecida, os meus eram sacerdotes no templo de Salomão”.
Disraeli foi o que se chamou de protossionista, judeu que já sonhava com uma pátria na Palestina antes do Movimento Sionista se organizar.
O outro membro da família de banqueiros essencial para a existência de Israel na Palestina foi Lionel Walter Rothschild, Segundo Barão Rothschild. Ele foi a força econômica por trás e o destinatário do documento que viabilizou os sonhos do sionistas: a Declaração de Balfour, enviada a ele pelo então Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Arthur James Balfour.
“O governo de Sua Majestade vê com bons olhos o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu, e fará o melhor possível para facilitar a realização deste objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas na Palestina, ou os direitos e status político desfrutados pelos judeus em qualquer outro país.”
Com a Declaração de Balfour, o Império Britânico, o mais poderoso do mundo, se comprometeu formal e publicamente com a causa sionista. Foi o mais decisivo impulso recebido pelo sionismo na sua história de 20 anos, desde o primeiro Congresso Sionista, realizado em 1897, na Basileia.
Com o apoio declarado do Império Britânico, nenhuma força seria capaz de deter os planos dos sionistas. Os judeus teriam uma pátria – e em boa hora.
A ERA DE OURO DO JUDAÍSMO CHEGA AO FIM NA EUROPA
Os primeiros anos do século 20 mostravam que a chamada Era de Ouro dos judeus na Europa tinha começado a ruir.
Em todos os lugares, no começo do século 20, o antissemitismo crescia em virulência. Era o fim de uma era.
Com Moses Mendelssohn, Sigmund Freud, Gustav Mahler, Franz Kafka, Albert Einstein e Benjamin Disraeli, os judeus ajudaram a moldar a Europa e o mundo modernos, revolucionando a filosofia, criando a psicanálise, a orquestração, o romance, a ciência e a política.
Claramente naquele começo de século, as tensões locais mostravam que a era de glória dos judeus europeus estava não só acabando, mas sendo revista com amargura, inveja e ódio por uma nova classe de políticos, os populistas totalitários.
“Os judeus europeus começaram a perceber nos olhos da Europa um brilho esquisito, patológico. O continente estava na iminência da insanidade totalitária. Muitos entenderam que o mais certo era sair correndo de lá”, diz Ari Shavit, autor de My Promised Land – The Triumph and Tragedy of Israel.
O ovo da serpente que se chocava nutria-se, especialmente na Alemanha, da então nascente falsa ciência da raça e sua aplicação prática, a eugenia, que prescrevia a eliminação física de deficientes físicos e mentais com ampla política de esterilização de mulheres que pudessem vir a dar a luz a filhos com problemas hereditários. Mais tarde, sob o nazismo, a tara da eugenia se voltou para as “raças inferiores” – judeus, ciganos e quase todos os povos eslavos.
Antes da eugenia, em muitos casos, bastava que um judeu abjurasse de sua fé e adotasse os hábitos dos países onde vivia, para ter chance de ser aceito nas sociedades locais. Quando a eugenia tornou-se a noção predominante, o foco do mal que os nazistas viam nos judeus transferiu-se da fé e dos hábitos para os genes. Genes não podiam nem ser negados nem cancelados – só exterminados. Essa constatação evoluiu em insanidade e intensidade até à “Solução Final” nos campos de extermínio.
O jornalista e escritor austríaco-húngaro, considerado o pai do moderno sionismo político, Theodor Herzl, viu na virada da maré contra os judeus europeus a oportunidade de realizar seu sonho. Escreveu ele no famoso texto fundacional do sionismo, O Estado Judeu, de 1896:
“As nações em cujos meios os judeus vivem são constantemente abaladas por manifestações violentas de antissemitismo. Os governos dessas nações vão estar fortemente interessados em nos ajudar a obter a pátria soberana que nós queremos.
O Movimento Sionista e sua utópica pátria soberana judaica fora da Europa passaram a ser vistos como uma opção viável para milhares de judeus europeus perseguidos.
A Palestina, de onde os judeus foram expulsos pelos romanos havia quase 2 mil anos, se firmou no imaginário dos judeus europeus como a moderna Terra Prometida.
“JESUS NAZARENO, REI DOS JUDEUS”
Antes de optar pela Palestina, o movimento sionista cogitou Uganda e Argentina como países que poderiam abrigar em seu território uma pátria soberana dos judeus. A Argentina, por ser um país de imigrantes. Uganda, pelo preço baixo das terras.
A Palestina foi escolhida pelo empuxo histórico-religioso de ter sido por milhares de anos a terra ancestral dos judeus até o ano 70 d.C., quando o imperador romano Tito conquistou Jerusalém, destruiu o Segundo Templo e expulsou os judeus, dando início à Diáspora Judaica, o espalhamento dos judeus pelo mundo.
Pouco mais de 60 anos mais tarde, em 131 d.C., outro imperador romano, Adriano, abafou uma revolta popular dos judeus remanescentes na região. Para puni-los ainda mais, o imperador mudou o nome da região de Judeia para “Aelia Capitolina”, em homenagem a Júpiter Capitolino – o deus maior do panteão religioso dos romanos.
E assim foi.
No século 4 dC, quando Santo Ambrósio, arcebispo de Mediolano, hoje Milão, ameaçando com o fogo eterno, convenceu os decadentes imperadores romanos do mau negócio que fariam se não aceitassem a primazia do cristianismo, deu-se uma onda de rejeição aos judeus. Ambrósio conseguiu do imperador Teodósio a revogação da punição a cristãos que haviam queimado uma sinagoga.
“Que mal real houve, afinal de contas, ao destruir uma sinagoga, uma ‘casa de perfídia’, uma casa de ímpios, na qual Cristo é diariamente blasfemado?”, disse Santo Ambrósio. Nasceu no tempo de Ambrósio o resistente mito de Ahasverus, o Judeu Errante, imortal, mas condenado a vagar pelo mundo em eterna fuga.
O poeta Castro Alves comparou o gênio a Ahasverus:
“O Gênio é como Ahasverus… solitário/ A marchar, a marchar no itinerário/ Sem termo do existir./ Invejado! a invejar os invejosos. Vendo a sombra dos álamos frondosos…/ E sempre a caminhar… sempre a seguir…/ Pede u’a mão de amigo – dão-lhe palmas:/ Pede um beijo de amor – e as outras almas/ Fogem pasmas de si/ E o mísero de glória em glória corre…/ Mas quando a terra diz: – “Ele não morre”/ Responde o desgraçado: – “Eu não vivi!…’”
Diz-se em tom de brincadeira entre os judeus, que eles perderam Jesus Cristo por uma falha de Relações Públicas. Jesus era um judeu da Palestina – fato que o cristianismo sempre fez questão de esconder.
JUDEUS E ÁRABES TINHAM PASSAPORTE PALESTINO
Os judeus só voltariam em massa à Palestina, em ondas migratórias sucessivas, a partir do sinal verde dado pelos donos do mundo daquele tempo, o Império Britânico. Não se sentiam invasores da terra de outros povos.
“Em abril de 1897, quando Theodore Herzl criou oficialmente o Movimento Sionista, não havia um povo palestino. Existiam na Palestina duas dezenas de cidades e quase uma centena de vilarejos ocupados por meio milhão de árabes, beduínos e drusos. A favor dos pioneiros do sionismo devemos reconhecer que não seria difícil, de boa fé, considerar aquela região uma terra de ninguém. Mais tarde, sob o Mandato Britânico, os palestinos não tinham autonomia, como os judeus. Éramos todos súditos de sua majestade em Londres”, coloca Ari Shavit.
Havia uma crença no progresso, nas novas tecnologias agrícolas e nas instituições políticas europeias. Essas maravilhas seriam levadas pelos judeus para a região, em benefício de todos.
Quando Winston Churchill visitou a Palestina em 30 de março de 1921, disse a uma delegação árabe que seria manifestamente correto que os judeus dispersos tivessem um país na Palestina, “região com a qual por 3 mil anos eles foram intimamente e profundamente associados”:
“Achamos que será bom para o mundo, bom para os judeus, bom para o Império Britânico, mas também bom para os árabes que vão certamente compartilhar os benefícios e o progresso do sionismo”.
Em 22 de julho de 1922, a Liga das Nações aprovou formalmente o Mandato da Palestina, orientando o Reino Unido a colocar em vigor a política definida pela Declaração Balfour a oeste do rio Jordão.
A razão de existir do Mandato Britânico foi, expressamente, viabilizar a criação de um Estado Judeu na Palestina. Mas a realidade não era tão simples.
Distante de Londres, altos funcionários, diplomatas e generais britânicos tinham outras prioridades: com o fim da 1.ª Guerra e a derrota dos turcos, aliados dos alemães, eles tinham herdado os destroços do Império Otomano e precisavam desenhar fronteiras, criar países, regras de convivência – enfim administrar uma região habitada por povos que eles mal conheciam e cuja cultura, em grande parte, desprezavam. A causa sionista era, na prática, uma chateação para os ingleses na Palestina. Muitos dos altos funcionários britânicos desenvolveram maior simpatia pelos árabes.
Os ingleses e os franceses, vencedores em 1918, não sabiam bem o que fazer com os espólios do Império Otomano. Suas decisões eram dúbias, vacilantes, com a intenção de adiar problemas, na tentativa de agradar a todos os lados.
A Declaração Balfour, argumentou George Antonius, autor da influente obra The
Arab Awakening (O Despertar dos Árabes), traiu o acordo anterior entre o Rei Hussein e Sir Henry McMahon, o alto comissário britânico no Egito. E isso, por sua vez, foi contradito pelo famoso acordo Sykes-Picot, que colocou o antigo território do Império Otomano sob o domínio de britânicos, franceses, e, pelo menos no papel, de russos.
Escreveu Antonius em 1938: “A promessa da Grã-Bretanha não tem validade real, em parte porque ela já havia se comprometido com o reconhecimento da independência árabe na Palestina e, em parte, porque a promessa envolve uma obrigação que ela não pode cumprir sem o consentimento árabe.”
Mais tarde o escritor Arthur Koestler criticaria de forma memorável o papel hesitante e dúbio dos ingleses na Palestina: “Uma nação prometeu solenemente a outra nação um território que pertencia a um terceiro povo”.
O que Koestler quis dizer com sua simplificação do problema da ocupação judaica na Palestina está na base de todos os conflitos que até hoje colocam judeus e árabes em permanente estado de guerra. Os judeus não se sentiam invasores. Para os árabes, no entanto, que sob o Império Otomano ocuparam a região lado a lado mas em maior número que os judeus, a Palestina era propriedade deles.
OS LÍDERES JUDEUS FICARAM COM OS ALIADOS. O LÍDER ÁRABE ESCOLHEU HITLER
Na medida que aumentava o volume das levas de judeus vindos da Europa, mais claro foi ficando para os britânicos que estavam se armando na região as bases de um longo e complexo conflito.
O Relatório Peel, publicado em julho de 1937, continua sendo o mais perceptivo estudo da bomba-relógio armada na Palestina desde o aumento das imigrações em 1917.
O relatório Peel capturou como as relações árabe-judaicas tinham azedado com o aumento da imigração de judeus. Sua conclusão foi clara: um conflito irreprimível surgiu entre duas comunidades nacionais dentro dos limites estreitos de um pequeno país. Profeticamente, o relatório percebeu o tamanho do abismo que dura até os dias atuais.
O fim da 2.ª Guerra trouxe a paz e, com ela, a decisão, compartilhada entre as grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, de que chegara a hora de se criar o Estado de Israel na Palestina. Com uma votação apertada na ONU, Israel conseguiu ver seu direito reconhecido. Pela mesma resolução, os palestinos tiveram um território designado para chamar de sua pátria. Os Estados árabes não aceitaram a decisão da ONU e declararam guerra a Israel.
Em julho de 1949, Israel assinou acordos de armistício com o Egito, Jordânia, Líbano e Síria dando fim à primeira de suas guerras de afirmação da própria existência. Ao assinar o acordo de paz, Israel controlava 78% da Palestina. Foi uma melhoria considerável em relação aos 55% que haviam sido designados pela ONU 20 meses antes. Nascia ali uma dura tradição: a cada guerra que os árabes declaram contra Israel e perdem, os judeus ganham mais território.
Como resultado de conflitos, Israel conquistou o controle sobre a península do Sinai (depois devolvida ao Egito), as Colinas de Golã, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e a Faixa de Gaza, entregue ao controle do Hamas em 2005.
Nos períodos entre guerras, as batalhas pelos corações e mentes da opinião pública mundial continuaram. Na primeira e mais decisiva delas, a que se seguiu ao fim do Mandato Britânico na Palestina, as razões da vitória inconteste de Israel foram cristalinas.
Abdel Monem Said Aly, Shai Feldman e Khalil Shikaki autores de Arabs and Israelis – Conflict and Peacemaking in the Middle East, relatam:
“A mais relevante entre todas as gritantes diferenças entre os sionistas e os nacionalistas palestinos talvez tenha sido a qualidade e a habilidade dos indivíduos que lideravam os dois lados: Chaim Weizmann e David Ben-Gurion foram ao mesmo tempo grandes estrategistas e operadores pragmáticos. Do outro lado despontava Hajj Amin al-Husseini, que aliou os palestinos à Alemanha nazista, perdendo assim toda a simpatia que poderia, de outra maneira, ter angariado dos Aliados, vencedores da 2.ª Guerra. Não menos importante, porém, foi a incapacidade dos árabes de construírem qualquer arremedo de instituições de Estado em seus territórios, sendo governados por líderes dogmáticos e autocráticos. Não foi surpresa, portanto, que ao tempo da criação do Estado de Israel, os palestinos se encontrassem em séria desvantagem.”
A posição de Grande Mufti e líder dos muçulmanos palestinos foi dada pelos administradores locais ingleses simpáticos aos árabes a Amin al-Husseini em 1921. Parecia um golpe bem colocado contra o sionismo. Como o tempo mostraria, o golpe mais cruel e destrutivo foi contra os árabes palestinos, a quem o Grande Mufti levaria a um beco sem saída e sangrento. Um aventureiro de tudo ou nada, o Grande Mufti colocou terras e vidas árabes em risco. O Grande Mufti optou por uma aliança com a Alemanha nazista e intimidade com Adolf Hitler, que se mostraria um desastre moral e de relações públicas para os palestinos.
PARTE 2 “VAMOS JOGAR OS JUDEUS NO MAR”
“Por um lado, Israel é o único país democrático ocidental que ocupa terras de outro povo. Por outro, Israel é a única nação ocidental cuja existência é constantemente ameaçada. Essas duas circunstâncias, a da ocupação e da ameaça permanente de extinção, nos definem. São os dois pilares da nossa condição”, diz Ari Shavit.
As crescentes ondas de imigração de judeus europeus para a Palestina a partir de 1917 traziam consigo o gérmen de um conflito duradouro. A primeira insurgência de árabes na Palestina contra Israel ocorreu em 1936.
Diversas outras se seguiram sob o olhar condescendente da potência estrangeira que dominava a região sob os auspícios da Liga das Nações, o Mandato Britânico na Palestina.
Os judeus europeus eram educados, com diplomas em engenharia, agronomia e medicina. Fossem judeus pré-sionismo ou árabes, os imigrantes esnobes olhavam os moradores tradicionais da Palestina de cima para baixo. O desdém foi o estopim das rebeliões nesse período, antes que a ocupação do território se tornasse o ponto focal da discórdia.
Antes que a ONU votasse a divisão da Palestina entre judeus e árabes locais, as tensões e confrontos violentos pareciam administráveis. Os judeus faziam juras seguidas de suas intenções progressistas na região, com a pregação de que sua chegada beneficiaria todas as etnias, enquanto muitos líderes árabes alimentavam a esperança de uma coabitação mutuamente benéfica entre os dois povos. Entra em cena o nacionalismo palestino.
“Vamos jogar os judeus no mar”, afirmou Kamal Irekat, que foi, nos anos 40, talvez, o primeiro líder árabe a declarar que o objetivo central da luta na Palestina era se livrar de todos os judeus.
Também conhecido como Kamal Nasser, Kamal Irekat celebrizou-se como um dos pais do nacionalismo palestino. Serviu como membro do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), de quem foi porta-voz.
Morreu assassinado em 1973 por um comando israelense em Beirute, no Líbano, na “Operação Primavera da Juventude”, que tinha como alvo líderes da OLP.
Riad Al Solh foi um personagem importante na história moderna do Líbano. Com o fim do mandato francês em 1943, Solh tornou-se tornou o primeiro primeiro-ministro do Líbano independente.
A TENTATIVA DE COMPRAR UM PAÍS
Até certo ponto um sentimento artificial, nascido entre intelectuais e jornalistas, o nacionalismo palestino ajudou a descarrilar o que chegou a parecer uma via pacífica para a criação de Israel: a compra de vastas porções de terra de seus proprietários locais. O príncipe Feisal e Chaim Weizmann concordaram em 1918 que não havia escassez de terra na Palestina: o problema era que grande parte dela era controlada por um pequeno grupo de proprietários árabes. A saída pela compra de terras parecia ser viável.
“Muitas famílias árabes proeminentes, incluindo ativistas nacionalistas, continuaram a vender terras aos judeus – uma questão embaraçosa que tem sido esquecida por historiadores palestinos. Além de seu impacto local, as transferências de terras afetaram a economia árabe em geral. Depois que o vale Marj Ibn Amr foi vendido, os métodos modernos de produção e a criação de gado substituíram o cultivo tradicional de cereais e o pastoreio.” Enemies and Neighbors: Arabs and Jews in Palestine and Israel, 1917-2017, de Ian Black.
Grandes famílias palestinas donas de terra, escreveu Ian Black, venderam imensas glebas férteis para Israel. Os sionistas chegaram a sonhar com a possibilidade de comprar terras suficientes para criar seu país na Palestina. No início de 1939, o líder druso-sírio, Sultão al-Atrash, propôs à Agência Judaica a venda de 16 das aldeias da comunidade na Palestina e a emigração para a Síria de seus 10.700 habitantes. Chaim Weizmann chamou isso de “a maior oportunidade” que o sionismo teve em cinquenta anos – e uma pechincha de 3 milhões de libras. “Isso nos aliviaria de muitos de nossos problemas políticos por muito tempo”, escreveu Weizmann em seu diário. A venda proposta pelo sultão, porém, não se concretizou.
Em 1899, ainda sob o Império Otomano, o pai do sionismo Theodor Herzl recebeu uma mensagem apaixonada de Yusuf Diya al-Khalidi, o ex-prefeito de Jerusalém. Khalidi reconhecia os direitos históricos dos judeus na Palestina, mas esperava que eles procurassem uma terra desabitada em outro lugar. Herzl respondeu a Khalidi que os não-judeus do país seriam enriquecidos pela riqueza judaica, visão compartilhada pelo poderoso monarca hachemita, rei Abdullah I, da Jordânia: “Você acredita que um árabe que tem uma casa ou terra na Palestina cujo valor é de três ou quatro mil francos vai se arrepender muito de ver o preço de sua terra subir cinco ou dez vezes? Pois isso é necessariamente o que acontecerá quando os judeus vierem; e isso é o que deve ser explicado aos habitantes do país. Eles adquirirão excelentes irmãos.”
O rei Abdullah, Theodor Herzl, Feisal e todos que previram, com sinceridade ou não, uma convivência razoavelmente civilizada entre judeus e árabes na Palestina erraram feio.
“Remova-os”
Antes e depois da partilha da Palestina pela ONU, os dois lados cometeram atrocidades contra civis. Os dois mais notórios episódios violentos daquele tempo ocorreram nas proximidades de Jerusalém.
Em 9 de abril de 1948 um grupo dissidente de para-militares judeus, o Irgut, atacou a população árabe civil do povoado de Deir Yassin, matando 107 pessoas, segundo dados aceitos atualmente por israelenses, palestinos e a Cruz Vermelha.
Poucos dias depois, os árabes revidaram o ataque. Em 13 de abril , emboscaram um comboio de ambulâncias, ônibus e carros que tentava abastecer o enclave judeu de Mount Scopus. Quase cem enfermeiras e médicos judeus foram mortos e tiveram seus corpos calcinados– entre eles, 23 mulheres.
Deir Yassin continua sendo um evento controverso, com perspectivas diferentes sobre os fatos que se desenrolaram ali No entanto, Deir Yassin é amplamente reconhecido como o ponto de virada na história do conflito .
Mesmo não sendo uma política oficial do recém-criado país, os líderes de Israel tinham em mente um território com uma população de maioria judaica, com a presença minoritária de árabes, aceitos como cidadãos e, pelo menos no papel, com todos os direitos dos moradores judeus. Esse objetivo não declarado gerou tensões e dissidências internas. Mas, como veremos, foi exatamente o que ocorreu.
Moshe Sharett foi o primeiro ministro das Relações Exteriores de Israel e primeiro ministro do país (1954-1955). Com o general Moshe Dayan e Yitzhak Rabin , Sharett foi um dos poucos líderes israelenses a falar abertamente sobre o êxodo palestino das terras asseguradas por Israel depois de atacado pelos exércitos árabes.
Moshe Dayan, o grande general de Israel disse em 1956: “Por que devemos reclamar do ódio ardente deles por nós? Por oito anos, eles estão sentados nos campos de refugiados em Gaza, nos observando transformar em nossas, as propriedades, terras e as aldeias onde eles e seus pais habitavam. Mas não temos escolha a não ser lutar. Esta é a escolha da nossa vida, estarmos preparados, armados, fortes e determinados. Sem o capacete de aço e o fogo do canhão, não poderemos plantar uma árvore e construir uma casa. O ódio que inflama e preenche a vidas das centenas de milhares de árabes que vivem ao nosso redor não pode nos distrair nem deixar que nossos braços se enfraqueçam.”
Os acordos de Oslo
Yitzhak Rabin foi assassinado por um radical israelense em 1995, um ano depois de receber, junto com Shimon Peres e Yasser Arafat, o Prêmio Nobel da Paz pelos Acordos de Oslo, notável avanço diplomático para a solução do conflito com a criação de um Estado Palestino.
A reação dos radicais palestinos foi boicotar os Acordos de Oslo, enviando levas de homens-bomba para se explodir em ônibus, supermercados e bares de cidades de Israel, matando centenas de civis.
No rascunho manuscrito de suas memórias, Yitzhak Rabin abordou a expulsão da população palestina de Lod e Ramala em 1948. Ele descreveu o evento como “problemático” e admitiu a falta de “experiência anterior” em lidar com tal situação.
Rabin era o comandante do Exército, sob a autoridade maior do primeiro-ministro Ben-Gurion, Ele relatou em seus manuscritos, censurados por algum tempo pelo governo de Israel, como o primeiro-ministro gesticulou e disse bruscamente: “Remova-os”, referindo-se aos moradores árabes de Lod:
‘“Remova-os’ é um termo bastante duro. Psicologicamente, esta foi uma das ações mais difíceis que realizamos. A população de Lod não abandonou a cidade de bom grado. Não havia como evitar o uso da força e tiros de advertência para fazer os habitantes marcharem de 10 a 15 milhas até o ponto onde eles se encontraram com a Legião Árabe”. A Legião Árabe foi um contingente armado criado pelos britânicos e sediado em Amã, capital da Jordânia.
Um exército inteiramente cercado
No início da primavera de 1967, um processo de rápida escalada estava em andamento entre Israel e os Estados árabes limítrofes, armados e assessorados pelos soviéticos. A Síria assumiu a liderança, mas o Egito e até mesmo a Jordânia, normalmente cautelosa, emulando uns aos outros, foram dobrando perigosamente as apostas. As lideranças palestinas, Fatah e a OLP, uma vez mais, foram apenas passageiras no trem de guerra. Uma vez mais, em um momento crítico, os palestinos perderam o controle de seu próprio destino.
A guerra foi curta, durou seis dias e terminou com a vitória acachapante das forças de Israel. Seu comandante, Moshe Dayan, saiu glorificado dos combates e entrou para os manuais de guerra como autor de um feito raríssimo: o cerco completo de um exército inimigo. Dayan manobrou brilhantemente em torno do Terceiro Exército Egípcio no Sinai.
Uma analogia que permite visualizar a vitória total e rápida de Israel em 1967 seria imaginar que a Inglaterra tivesse vencido Hitler e ocupado Berlim apenas três dias depois da famosa retirada de Dunquerque.
A guerra que mudou o Oriente Médio terminou em 11 de junho de 1967. Como resultado imediato de sua vitória no campo de batalha, Israel mais do que triplicou o território que controlava. Passou a ter sob sua tutela cerca de 1,1 milhão de palestinos.
Em 1973, mais uma vez armados e incentivados pelos soviéticos, os países árabes com Egito e Síria à frente foram derrotados por Israel ao tentar recuperar territórios perdidos na Guerra dos Seis Dias de 1967: o Egito queria de volta a Península do Sinai e a Síria, as Colinas de Golã. Conhecida como Guerra do Yom Kippur ou Guerra do Ramadã — o ataque surpresa contra Israel ocorreu no dia mais sagrado do calendário judaico, o Yom Kippur, coincidindo com o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos.
Israel é uma realidade e não apenas um propósito
O não-falado objetivo histórico de Israel, tão bem colocado por Moshe Sharett (“Nós nos esforçamos para enfraquecer e desintegrar os árabes que vivem em Israel, impedindo que formem uma minoria nacional. Ao mesmo tempo, nosso objetivo é melhorar e avançar sua situação como indivíduos …”) , se tornou realidade.
Em 1948, os palestinos em Israel somavam 160 000 pessoas. Hoje passam de 2 milhões. São considerados cidadãos árabes-israelenses, fazem o serviço militar, mantendo os islamismo como sua religião. Eles constituem 21% da população total de Israel. Ocupam 8,3% dos 120 assentos no Knesset, o Parlamento de Israel. Sua atual representação no Knesset é baixa em comparação com a participação populacional árabe total, mas a cada eleição, os árabes-israelenses aumentam sua representação.
O ataque terrorista do Hamas a Israel em 7 de outubro, mais uma vez afastou do cenário a ideia da convivência pacífica, mesmo que tensa, no Oriente Médio. Israel deixou de ser apenas um propósito nos corações e mentes de alguns judeus europeus do século XIX e se tornou uma realidade inamovível. É a partir dessa realidade que as soluções devem ser buscadas.
ARTIGO990