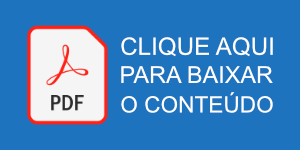Entre quimeras e tesouros do passado
Por Luiz Zanin Oricchio, O Estado de S. Paulo, 05/05/2024
O cinema vive muito de repetição e de um caso ou outro de originalidade, injeções de criatividade na prática comercial da rotina. Vejam, por exemplo, As Maravilhas e Lázaro Feliz (este na Netflix). Ambos da italiana Alice Rohrwacher, cujo trabalho mais recente, La Chimera, chega agora ao nosso circuito. São sopros de ar fresco num ambiente que nos parece cada vez mais abafado, para não dizer esclerosado.
Os distribuidores preferiram (não sei por que) deixar o título no original italiano. É praticamente igual ao nosso “quimera” – sonhos, fantasias, aspirações jamais realizadas, e nem por isso menos potentes em nosso imaginário. Vivemos, talvez, de quimeras, que são como as esperanças, e ambas têm utilidade prática em nossas vidas. Caminhamos e elas se distanciam, como se fugissem no horizonte. Mas, se não existissem, ficaríamos parados, imóveis, no mesmo lugar.
A própria Alice, em entrevistas, tem dito que cada um dos seus personagens tem sua quimera própria. Para Arthur (Josh O’Connor), é uma mulher que ele perdeu e tenta reencontrar, buscando um caminho através da morte. Para o grupo de violadores de túmulos arqueológicos, os “tombaroli”, a quimera é o dinheiro fácil, que fazem ao vender no mercado clandestino objetos de elevado valor cultural, restos da civilização etrusca. A velha signora, vivida por Isabella Rossellini, tem sua quimera na casa antiga cercada de uma corte de mulheres. Uma delas, Itália, interpretada pela brasileira Carol Duarte, tem a sua quimera, a de se tornar cantora lírica. E assim segue a vida.
Deve-se dizer que Alice Rohrwacher, como em seus outros filmes, adota neste uma narrativa nada convencional, ou simétrica, ou linear. Os quadros vão sendo montados em sucessão, colocando diante do espectador um desfile de imagens que vão se sobrepondo como camadas geológicas – ou, no caso, arqueológicas. O desenho da figura final vai se esboçando aos poucos.
Vejo esse filme um pouco como um exercício de arqueologia mesmo. Numa entrevista, Rohrwacher falava da quimera dos arqueólogos, que é, a partir de restos, reconstruir civilizações perdidas. Um exercício tanto de ciência como de ficção. A verdade com estrutura de ficção, como enuncia a psicanálise em algumas de suas passagens mais felizes.
Esse é o termo, digamos, médio de La Chimera, ambientado na Toscana, em terras habitadas na Antiguidade pelos etruscos. Os “tumbaroli” formam quadrilhas que lucram com objetos tirados de escavações clandestinas. Nesse esquema, Arthur é precioso, pois, em aparência, tem o dom de descobrir o lugar certo onde cavar. Como os antigos adivinhadores de água, percorre o terreno com sua vareta em forma de forquilha, e consegue mostrar o lugar onde se encontram os tesouros soterrados.
Esses tesouros – pinturas, objetos, estátuas – formam parte do passado funerário de um povo anterior aos antigos romanos. Estes também foram substituídos pelos italianos atuais e deixaram seus vestígios, que afloram à luz do dia por toda a Itália e também por outras terras conquistadas no auge do império romano. São como civilizações que se comunicam, as mais recentes postadas sobre a anterior e assim por diante. O tortuoso caminho da humanidade se esboça nesses espaços contíguos, porém de eras diferentes. O fascínio, a grande quimera dos que estudam esses terrenos, é flagrar o percurso da humanidade através do tempo. Talvez adivinhar-lhe o sentido, se este por acaso existir.
AURA. Nesse ponto, há um diálogo de Alice Rohrwacher com outra “camada arqueológica” (permitam-me a metáfora) do próprio cinema. Refiro-me à obra de Federico Fellini que, pelo menos em duas ocasiões, recorreu explicitamente à arqueologia como inspiração. Numa delas em Roma, quando uma escavação do metrô se depara com um suntuoso aposento da Roma antiga, conservado abaixo da superfície. Em contato com o ar, os deslumbrantes afrescos se desfazem, como se a captura do passado fosse um sonho impossível. Em outro, Satyricon, usando a obra incompleta de Petrônio para imaginar o que poderia ter sido a Roma de Nero, um processo que tem a ver mais com invenção do que com reprodução. Tudo isso é fascinante.
Mas há também a materialização desse fascínio, quando os objetos, outrora sagrados, perdem sua “aura” – tomo aqui de empréstimo a palavra consagrada por Walter Benjamin. Em outros termos, é quando o sagrado se dessacraliza e torna-se mercadoria. Quando os tesouros da Antiguidade vão a leilão e são arrematados por ricaços, que os esconderão em suas mansões para sua fruição privativa, já que não podem exibi-los ao mundo, pois o tráfico de objetos roubados seria desmascarado.
Se não me engano, há uma passagem assim em La Chute, de Camus, com um personagem que detém em sua casa um quadro que só ele pode contemplar. É um privilégio, e uma prisão. Essa contradição é mostrada com sutileza e fina ironia pela cineasta ao apontar esse beco sem saída do capitalismo – quando tudo se pode comprar não se tem nada, porque o espírito das coisas se evapora na transação comercial.
É o sentido do gesto final de Arthur, que não diremos qual é para que o espectador se surpreenda ao descobri-lo no quase desfecho desse filme mágico. ARTIGO1081