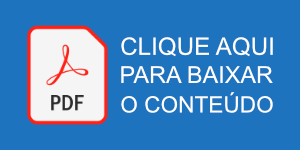O CUSTO DA FEDERAÇÃO
Arnold Toynbee, no livro Um Estudo da História (Ed. Martins Fontes, tradução de Isa Silveira Leal e Manoel Silveira, 1986), às páginas 162 a 180, faz menção a dois mecanismos que podem levar as civilizações ao sucesso e ao fracasso. Pelo primeiro (mimese), os povos capazes de perceber que o maior complexo das relações sociais de qualquer natureza – e o social aqui é aplicado como adjetivo vinculado ao substantivo sociedade – é mecânica, mas reconhecem, como no organismo físico, que parte depende da vontade e das decisões de comando, podendo gerar a criatividade necessária para superar os desafios que ocorrem em cada instante histórico e em cada espaço geográfico. E serão bem sucedidos. Se, ao contrário, a repetição dos gestos mecânicos do organismo social – como naquele físico esclerosado – se estender à parte orgânica, que depende da vontade, havendo uma “inversão de papéis”, o Estado criador torna-se um Estado repetitivo e o colapso da Nação ocorre. Justifica assim o fracasso político do povo judeu, a falência do helenismo, a derrota de Roma, para não se falar das civilizações nascidas no Próximo, Médio e Extremo Orientes, antes do apogeu daquelas três.
Tais considerações trago à reflexão dos leitores do Estado sobre o momento brasileiro, que, a meu ver, pela repetição de fórmulas ultrapassadas e pela falta de criatividade para enfrentar os desafios atuais, está retratando uma nação, que se esfrangalha, sem um projeto inovador.
O primeiro ponto a se examinar – e neste artigo apenas dele cuidarei – é o do modelo de Estado federativo adotado, cujo custo político é incomensuravelmente maior do que os benefícios que tal forma de Estado poderia oferecer à sociedade brasileira.
Os ideais políticos brasileiros da segunda metade do século passado centravam-se em três bandeiras hasteadas por todos os homens de consciência da época, inclusive os três jornalistas que fundaram A Província de São Paulo em 1875, a saber: Júlio de Mesquita, Rangel Pestana e Hipólito da Silva, ou seja: 1) bandeira abolicionista; 2) a bandeira republicana e 3) a bandeira federalista. E as três saíram vitoriosas antes do encerramento do século, muito embora hoje tenha eu sérias dúvidas se o presidencialismo republicano adotado se revelou melhor que o parlamentarismo monárquico de D. Pedro II.
A Federação brasileira, todavia, veio à luz distorcida. Em verdade, a tradição histórica do Páis – a começar quando Afonso Henriques, após a batalha de São Mamede, oferendou um novo modelo político à Europa – sempre esteve voltada para governos centrais fortes, como em Portugal, único a ostentar, naquele continente, um rei que governava, ao contrário dos demais Estados europeus, em que os reis fracos eram dirigidos por senhores feudais ou nobres fortes. Tal centralização continuou nas colônias lusitanas, sendo a principal responsável pela manutenção de um país com dimensões continentais, fenômeno político que as outras nações europeias que chegaram à América não conseguiram assegurar. Canadá e Estados Unidos ganharam seu atual tamanho geográfico, não por força e gesto de um só povo, mas de acordos entre governos ou de conquistas posteriores à independência.
Por esta razão, a Federação brasileira, nas Constituições de 1891, 1934 e 1937, exteriorizou-se por modelo que tinha tal perfil apenas no texto da lei suprema. A de 1946 procurou alargar a descentralização federativa, novamente compactada em 1967 e na Emenda nº 1/1969.
Na tentativa, todavia, de assegurar maior domínio político, Estados foram criados no período de exceção de 1964 a 1985, atingindo o número de 26 na atual Carta, a qual se revelou federativa na realidade e não apenas na teoria constitucional. Outorgou, todavia, o constituinte de 1988, ao município o estatuto de entidade federativa, sendo o Brasil hoje o único país civilizado em que a Federação integra o município entre seus participantes.
Na doutrina, tem-se discutido muito sobre tal modelo, que, politicamente, impõe um custo maior à sociedade, compensado nos países que o adotam, por uma redução global do tamanho do Estado, em economias francamente liberais. É que, em vez de uma esfera de poder político, a Federação deve suportar duas, autônomas e não soberanas. Ora, o custo político adicional não retorna em serviços públicos para a população, visto que tais serviços são prestados pela administração, e não pelos políticos. No Brasil, contudo, sobre não ter o Estado diminuído sua ciclópica estrutura pela franca adoção de uma economia liberal – que o tornaria também economicamente menos pesado à sociedade – criou uma terceira esfera de poder, a dos municípios, com autonomia amplamente alargada no texto constitucional de 1988. Desta forma, o brasileiro é obrigado, com seus tributos, exigidos pelas três esferas, a sustentar sua administração pública, além de cinco mil Poderes Executivos, cinco mil Poderes Legislativos e 27 Poderes Judiciários, que compõem os cinco mil entes federativos do País. E todo o drama nacional reside em que, apesar de a carga tributária em nível e produto privado bruto – isto é, do pagamento de tributos pela sociedade não governamental – ser a mais elevada do mundo (60% do PPB), é insuficiente para sustentar o custo político de uma Federação disforme, em que um dos Estados (Acre) tem menos população (393 mil habitantes) que o Bairro de São Miguel Paulista, em São Paulo. Por estatísticas acientíficas, demagógicas e coniventes, os governos dizem que a carga tributária corresponde a 25% do PIB, que é formado, em mais de 50% pelas cinco mil entidades federativas que não pagam tributos.
Em outras palavras, o governo brasileiro compara a carga tributária do país com a de outros países, sem nunca se referir à participação da máquina estatal, que não paga tributos, no PIB dos outros países. Sem este referencial, a comparação reflete uma das mais fantásticas mentiras estatísticas de que se tem conhecimento.
Compreende-se, pois, a razão do aético acordo da rolagem da dívida interna de Estados e municípios com a União, no valor de dois terços da dívida externa brasileira, à custa do exaurido contribuinte.
Estou convencido de que a Federação brasileira não cabe no PIB nacional e, se não pensarmos – todos e de imediato – em reduzi-la a Estados com densidade econômica própria, transformando os demais, em Territórios Federais, que não tem o custo de uma estrutura política regionalizada, o país não sairá da crise em que está. O tema é delicado, mas, se não for enfrentado por esta geração, a geração futura estará definitivamente comprometida.
Fonte: IVES GANDRA MARTINS – O Estado de S. Paulo, 23/01/1992
ARTIGO253