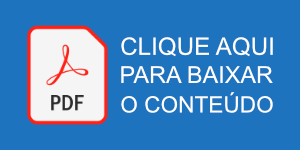O FIM DA HEGEMONIA DOS ESTADOS UNIDOS
Contexto de polarização doméstica é ameaça maior para o poder dos EUA que a retirada militar do Afeganistão
Francis Fukuyama / Especial para a The Economist, O Estado de S.Paulo – 30 de agosto de 2021
As terríveis imagens de afegãos desesperados para fugir de Cabul esta semana, depois da derrubada do governo apoiado pelos Estados Unidos evocam uma grande mudança de direção para a história mundial, à medida que os Estados Unidos foram dando as costas para o mundo. Na verdade, o fim da era americana teve início mais cedo. As fontes do enfraquecimento e declínio americano são mais internas do que internacionais. O país continuará uma grande potência por anos, mas sua influência dependerá mais da sua capacidade de resolver seus problemas internos do que da sua política externa.
O período de auge da hegemonia americana durou menos de 20 anos, da queda do Muro de Berlim em 1989 até a época da crise financeira, em 2007-2009. O país era dominante em muitas áreas – militar, econômica, política e cultural. O apogeu da soberba americana foi a invasão do Iraque em 2003, quando os Estados Unidos esperavam reconstruir não só o Afeganistão e o Iraque, mas todo o Oriente Médio.
O país superestimou a eficácia do poder militar para realizar mudanças políticas fundamentais, e ao mesmo tempo subestimou o impacto do seu modelo econômico de livre mercado sobre as finanças globais. A década terminou com suas tropas mergulhadas em duas guerras de contrainsurgência e o país atolado numa crise financeira internacional que acentuou as enormes desigualdades que a globalização liderada pelos Estados Unidos havia provocado.
O nível de unipolaridade nesse período foi algo relativamente raro na história e o mundo vem retornando a um estado mais normal de multipolaridade desde então, com China, Rússia, Índia, Europa conquistando poder em relação aos EUA.
O efeito derradeiro do Afeganistão sobre a geopolítica provavelmente será pequeno. Os EUA sobreviveram a uma outra derrota humilhante antes, quando se retiraram do Vietnã em 1975, mas rapidamente reconquistaram seu predomínio em pouco mais de uma década. Hoje, o país trabalha com o Vietnã para frear o expansionismo chinês. Os EUA ainda possuem muitas vantagens econômicas e culturais que poucos países conseguem igualar.
O desafio maior para a posição global dos Estados Unidos é doméstico: a sociedade americana está profundamente polarizada e é difícil haver algum consenso em praticamente tudo. Essa polarização teve início com questões políticas convencionais, como o aborto, mas se transformou numa luta amarga sobre identidade cultural.
A demanda por reconhecimento de grupos que sentem ter sido marginalizados pelas elites é algo que já identifiquei há 30 anos como o tendão de Aquiles da democracia moderna. Normalmente, uma grande ameaça externa, como uma pandemia, seria ocasião para os cidadãos se unirem em torno de uma resposta comum: mas, pelo contrário, a crise da covid-19 serviu para aprofundar as divisões no país, com o distanciamento social, uso de máscaras e, hoje, a vacinação sendo vistos não como medidas de saúde pública, mas questões que servem para marcar posição política.
Esses conflitos se estenderam para todos os aspectos da vida, dos esportes às marcas de produtos de consumo que americanos republicanos e democratas compram. A identidade cívica que orgulhou a América como uma democracia multirracial na era pós-direitos civis foi substituída por narrativas beligerantes sobre 1619 versus 1776, ou seja, se o país foi alicerçado na escravidão ou na luta pela liberdade. O conflito se ampliou para as realidades separadas que cada lado acredita ver, realidades que, como a eleição de novembro de 2020 foi, para alguns, uma das mais limpas na história americana e para outros uma fraude maciça que levou a uma presidência ilegítima.
Durante toda a Guerra Fria e até o início de 2000, havia um forte consenso nos Estados Unidos em favor da manutenção de uma posição de liderança na política mundial. As guerras excruciantes e aparentemente sem fim no Afeganistão e no Iraque afetaram muitos americanos não só no caso de uma região difícil como o Oriente Médio, mas no tocante ao envolvimento internacional em geral.
A polarização afeta diretamente a política externa. Durante os anos Obama, os republicanos adotaram uma postura agressiva e castigaram os democratas pelo “reset” (retomada de relações) com a Rússia, e a alegada ingenuidade em relação ao presidente Putin. O ex-presidente Trump adotou uma posição contrária, apoiando abertamente Vladimir Putin e hoje cerca da metade dos republicanos acredita que os democratas são uma ameaça maior para o estilo de vida americano do que a Rússia. Tucker Carlson, âncora conservador de um canal de TV, viajou para Budapeste para homenagear o primeiro ministro autoritário da Hungria, Viktor Orbán; “owning the libs” (ou seja, dominar a esquerda, um slogan adotado pela direita) era mais importante do que defender valores democráticos.
Há um consenso mais aparente no tocante à China: tanto republicanos como democratas concordam que a China é uma ameaça aos valores democráticos. Mas isto só leva os Estados Unidos até certo ponto. Um teste mais importante para a política externa americana do que o Afeganistão será Taiwan, se ficar sob ataque direto dos chineses. Os Estados Unidos estarão dispostos a sacrificar seus filhos e filhas em nome da independência daquela ilha? Ou os Estados Unidos correrão o risco de um conflito militar com a Rússia no caso de ela invadir a Ucrânia? Essas são perguntas sérias e as respostas não são fáceis, mas um debate sensato sobre o interesse nacional americano provavelmente será conduzido primariamente através das lentes de como ele afeta a luta partidária.
A polarização já prejudicou a influência global dos Estados Unidos sem haver testes futuros como esses. Essa influência depende do que o estudioso de política externa, Joseph Nye, rotulou de “poder brando”, ou seja, o fascínio que as instituições e a sociedade americanas exercem sobre o mundo.
Esse apelo diminuiu enormemente: é difícil alguém dizer que as instituições democráticas americanas vêm trabalhando bem nos últimos anos, ou que qualquer país deveria imitar a disfunção e o tribalismo político dos Estados Unidos. A marca distintiva de uma democracia madura é sua capacidade de realizar transferências pacíficas de poder após as eleições, um teste no qual o país falhou espetacularmente em seis de janeiro.
O maior fracasso político do governo de Joe Biden nos seus primeiros sete meses de atuação foi não ter se planejado adequadamente para o rápido colapso do Afeganistão. Embora tenha sido uma atitude inadequada, ela não exprime a sensatez da decisão de o país se retirar do Afeganistão que no final provará ter sido a correta. Biden sugeriu que a saída foi necessária para focar na solução de problemas maiores, da Rússia e China, mais adiante. Espero que esteja falando sério. Barack Obama nunca foi bem-sucedido na sua estratégia do “pivô” para a Ásia porque os Estados Unidos permaneceram concentrados na contrainsurgência no Oriente Médio. O atual governo precisa redirecionar seus recursos e a atenção dos dirigentes de outras partes para deter rivais e interagir com os aliados.
Os Estados Unidos provavelmente não reconquistarão seu status hegemônico e nem deveriam aspirar a isso. Mas sim apoiar países com pensamento igual, uma ordem mundial defensora dos valores democráticos. E isso dependerá não de ações de curto prazo em Cabul, mas da recuperação de um sentido de identidade e aspiração nacional no campo doméstico.
FRANCIS FUKUYAMA É MEMBRO SÊNIOR DO FREEMAN SPOGLI INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES DA UNIVERSIDADE DE STANFORD E DIRETOR DO CENTRO DE DEMOCRACI
ARTIGO775