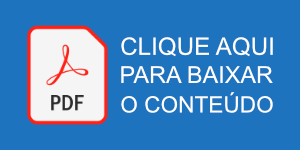O retrocesso que ameaça a Revolução Liberal
Democracias ocidentais encaram uma maré crescente de um populismo cético e antiliberal
The Washington Post, Fareed Zakaria
O Estado de S. Paulo, 07/04/2024, traduzido por Augusto Calil
Vivemos uma era de reação a três décadas de revoluções em diferentes campos. Desde a queda do Muro de Berlim, em 1989, o mundo testemunhou a liberalização dos mercados e a explosão da tecnologia da informação. Cada tendência pareceu reforçar a outra, criando um mundo em geral mais aberto, dinâmico e interconectado. Para muitos americanos, essas forças pareciam naturais e autossustentáveis, mas não são. As ideias que se espalharam pelo planeta durante essa era de abertura eram ideias americanas, ou pelo menos ocidentais, e fortalecidas pelo poder dos EUA. Ao longo da década passada, conforme esse poder começou a ser contestado, essa tendência começou a se reverter. Neste momento, a política em todo o mundo está repleta de ansiedade, uma reação cultural a anos de aceleração.
A oposição ao poder dos EUA é facilmente visível no campo da geopolítica. Após três décadas de hegemonia americana incontestada, a ascensão da China e o retorno da Rússia nos trouxeram de volta a uma era de competição entre grandes potências. Essas nações, assim como algumas potências regionais, como o Irã, buscam perturbar e erodir o sistema internacional dominado pelo Ocidente, que tem ordenado o mundo nas décadas recentes.
Mas isso não é simplesmente uma resposta ao poder bruto dos EUA; é também uma reação à ampla disseminação das ideias liberais do Ocidente. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, o da China, Xi Jinping, e o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, são aliados em um aspecto crucial: todos acreditam que os valores ocidentais são estranhos às suas sociedades e minam seus governos. Muito mais preocupante: dentro do mundo ocidental desenvolveu-se uma reação negativa a muitos desses mesmos valores.
CETICISMO. As democracias ocidentais encaram uma maré crescente do populismo antiliberal, que é cético em relação a abertura, globalização, comércio, imigração e diversidade. O resultado tem sido que em todo o mundo vemos um recuo da democracia, tarifas e barreiras comerciais crescentes, cada vez mais hostilidades à imigração e aos imigrantes, a expansão eterna dos limites sobre as tecnologias e o acesso à informação – e ainda mais ceticismo a respeito da própria democracia liberal.
As ideias liberais transformaram as sociedades e as suas formas de interagir entre si. Basta olhar ao redor. Desde 1945, ano do nascimento da “ordem internacional liberal”, o mundo experimentou o que John Lewis Gaddis chamou de “longa paz”, o período mais duradouro sem conflitos entre grandes potências na história moderna. Desde então, a maioria das nações comportou-se no exterior normalmente de acordo com um conjunto de regras, normas e valores compartilhados. Há, neste momento, milhares de acordos internacionais que governam o comportamento de países e muitas organizações internacionais que criam fóruns de discussão, debate e ação conjunta.
O comércio entre esses países explodiu. Ele correspondia a cerca de 30% do PIB global em 1913, uma era frequentemente considerada um ponto alto em termos de paz e cooperação. Hoje, está na casa dos 60%. Desde 1945, anexações de território por meio da força, uma ocorrência comum no passado, tornaramse raras a ponto de quase desaparecer – o que explica por que a invasão russa à Ucrânia se sobressai como uma anomalia notável.
Conforme avança a reação negativa ao poder e às ideias dos EUA, a dúvida que emerge é se a ordem internacional existente será sustentada com a paz entre grandes potências, o comércio global e alguma medida de cooperação internacional ainda vigorando, ou se retornaremos para a selva da realpolitik.
REGRAS. O mundo de rivalidades e realpolitik nos acompanha desde tempos imemoriais. O mundo com uma ordem internacional baseada em regras é algo relativamente novo. Assim como muitas ideias liberais, ele emergiu do Iluminismo europeu. Pensadores como Hugo Grotius e Immanuel Kant começaram a defender conceitos relativos a interesses nacionais que nos afastam da guerra e nos aproximam da “paz perpétua”.
No século 19, liberais britânicos adotaram algumas dessas ideias, e o Reino Unido começou a agir no exterior para defender seus valores, não simplesmente seus interesses. Por exemplo, os britânicos não só aboliram o comércio de pessoas escravizadas, mas também usaram sua Marinha para bloquear navios negreiros de outros países. Mas foi apenas das cinzas da 2.ª Guerra que os EUA, absolutamente dominantes, foram capazes de conceber um sistema internacional genuinamente novo e torná-lo realidade.
EXPANSÃO. Esse sistema – as Nações Unidas, os Acordos de Bretton Woods, o livre-comércio, a cooperação – emergiu em meados nos anos 40, mas foi em grande medida rejeitado pela União Soviética; e portanto cresceu dentro da bolha ocidental. Até 1991, quando o comunismo soviético ruiu e a ordem liberal passou por uma expansão furiosa para incluir dezenas de países do Leste Europeu, da América Latina e da Ásia. O ex-presidente George H.W. Bush batizou o cenário como “uma nova ordem mundial”. Mas, na realidade, tratava-se de uma expansão da ordem ocidental existente para abranger a maior parte do mundo.
Por que esse sistema está em risco? A reação na geopolítica era inevitável? As duas maiores forças – a ascensão da China e a volta da Rússia – foram produto de mudanças estruturais no poder? Ou a culpa será de decisões individuais, principalmente por parte do Ocidente?
Muitos realistas argumentam que a agressão revisionista da Rússia foi provocada pelo aumento constante no número de países-membros da Otan depois da Guerra Fria. Durante o debate a respeito da expansão da Otan, nos anos 90, fui uma voz cautelosa em relação ao tema: favorável à entrada de grandes países do Leste Europeu – Polônia, Hungria, República Checa – mas também a uma pausa subsequente para que os líderes dos países da aliança pensassem nos interesses e sensibilidades da Rússia e os levassem em consideração. E eu acreditava já em 2008, assim como agora, que a decisão do ex-presidente George W. Bush na cúpula de Bucareste, naquele ano, de abrir a possibilidade de a Ucrânia poder aderir à Otan, mas sem fazer um convite formal ao país, foi o pior dos dois mundos – enfurecendo a Rússia, mas sem dar à Ucrânia um caminho para a segurança.
Mas a Rússia poderia ter invadido a Ucrânia mesmo sem a expansão da Otan (alguns pensam que a invasão poderia ter ocorrido ainda antes). A Ucrânia impregnava a consciência russa: a joia da coroa do império czarista. A história russa remonta ao Estado medieval conhecido como Rússia Kievana, cuja capital era Kiev; e grande parte da Ucrânia ficou sob controle de Moscou por mais de 300 anos.
Quando Putin classificou famosamente o colapso da União Soviética como a “maior catástrofe geopolítica do século”, ele foi além e explicou por quê. Porque milhões de “russos” deixaram de ser parte da Mãe Rússia – uma visão que considera os ucranianos russos (mas de segunda classe) e a Ucrânia uma região subordinada à Rússia. Após um período de fraqueza nos anos 90, quando a Rússia travou duas guerras sangrentas para evitar a secessão da Chechênia, Putin estabeleceu para si mesmo o objetivo de restaurar o poder russo, especialmente em seu “exterior próximo”. Isso o colocou no rumo para reverter a independência da Ucrânia.
RESTAURAÇÃO IMPERIAL. A União Soviética foi o último império multinacional do mundo, e uma rápida análise da história nos ensina o que costuma acontecer quando impérios desse tipo colapsam: o poder imperial empreende esforços sangrentos para manter seus antigos territórios. Os franceses travaram uma guerra sangrenta para manter a Argélia, que consideravam parte essencial da França. E também tentaram manter sua colônia no Vietnã, como os holandeses na Indonésia. Os britânicos mataram mais de 10 mil pessoas durante a Revolta dos Mau Mau no Quênia. A incursão de Putin na Ucrânia pode ser similarmente entendida como uma guerra de restauração imperial.
Ainda assim, muitos analistas realistas eximem a Rússia. Em vez disso, criticam os EUA por terem sido fortes e assertivos demais em sua política em relação a Moscou, com a expansão da Otan vista como uma aproximação imprópria ao “quintal” russo.
ENVOLVIMENTO E DISSUASÃO. Em relação à China, o consenso vai na outra direção: Washington foi fraco e submisso demais. Os EUA deram boas-vindas à China no sistema internacional e abriram as comportas que permitiram uma inundação de comércio e investimento sem se importar com suas práticas de exploração abusiva na economia e tendências autoritárias. Isso foi feito sob a convicção de que a China adotaria posições moderadas e se tornaria uma democracia responsável. Os combatentes da Nova Guerra Fria, que desejam um conflito total com a China, afirmam que essas décadas de uma política de “envolvimento” foram ingênuas e fracassaram. Afinal, a China não se transformou em uma democracia liberal.
Na realidade, a política de Washington em relação à China nunca foi puramente de envolvimento, e seu objetivo principal não era transformar a China em uma Dinamarca. A política foi sempre uma combinação entre envolvimento e dissuasão, às vezes descrita como “cobertura”. As autoridades americanas concluíram nos anos 70 que trazer a China para o sistema econômico e político era melhor do que o país existir fora dele, ressentida e desestabilizadora. Mas os EUA aliaram esses esforços de integrar a China a uma ajuda consistente a outras potências asiáticas como um mecanismo de contrapeso. Os americanos mantiveram tropas no Japão e na Coreia do Sul, aprofundaram relações com a Índia, expandiram a cooperação militar com a Austrália e as Filipinas e venderam armas para Taiwan.
Esse equilibrismo funcionou em grande medida. Antes da abertura a Pequim promovida pelo ex-presidente Richard Nixon, a China era o maior Estado incontrolável do mundo, financiando e dando apoio político a insurgências e movimentos guerrilheiros em todo o planeta, da América Latina ao Sudeste Asiático. Mao Tsétung era obcecado com a ideia de se situar na vanguarda de um movimento revolucionário que destruiria o capitalismo ocidental. Nenhuma medida em nome da causa era extrema demais – nem mesmo um apocalipse nuclear. “Se o pior cenário ocorrer e metade da humanidade morrer”, explicou Mao em um discurso em Moscou, em 1957, “a outra metade permaneceria, enquanto o imperialismo seria aniquilado definitivamente, e o mundo inteiro se tornaria socialista”. Em comparação, desde o mandato de Deng Xiaoping, a China foi uma nação notavelmente contida na arena internacional, sem ir à guerra nem financiar insurgentes em nenhum lugar desde os anos 80.
Mas Xi deu início a uma política externa muito mais assertiva. Reverteu grande parte do consenso chinês que alimentou o sucesso de seu país, erradicando o ditame de Deng, “oculte sua força e aguarde seu momento”, e a promessa de Hu Jintao de “ascensão pacífica”. Muito pouco é oculto ou pacífico a respeito dos combates entre tropas chinesas e indianas no Himalaia, da pressão sobre a Coreia do Sul para a remoção de um sistema americano de defesa contra mísseis e dos exercícios navais em ameaça a Taiwan. Talvez fosse inevitável a chegada deste momento após a China ter aguardado o suficiente e estar pronta para demonstrar sua força. A China sente que merece ser tratada como a grande potência que é.
Ninguém pode ter certeza a respeito de como o mundo seria se Washington tivesse buscado políticas muito diferentes em relação à China e à Rússia. Os cenários alternativos são tentadores. A Rússia teria se democratizado e se integrado à ordem liberal, como a Alemanha do pós-guerra? Se Washington tivesse endurecido com Pequim a China teria se tornado uma versão do Japão nos anos 80, economicamente ameaçadora, mas geopoliticamente benigna?
Na verdade, a ascensão pacífica da Alemanha e do Japão foi uma anomalia propiciada por razões históricas especificas. A China e a Rússia estavam fadadas a demonstrar sua força no futuro. E é irônico que alguns dos altos sacerdotes da realpolitik, que normalmente argumentariam que confrontos entre grandes potências são resultado inevitável de ambições nacionais em competição, ainda culpem as ações dos EUA – em um caso por serem duros demais, no outro, por serem fracos demais.
COMPETIÇÃO. Pode-se argumentar que mudanças no equilíbrio global de poder foram mais determinantes no sentido de incitar a Rússia e a China à ação, apesar de lideranças domésticas terem tomado decisões fatídicas em ambos os países. Depois de se recuperar de sua era de fraqueza nos anos 90, uma Rússia revitalizada tenderia a tentar retomar parte de sua glória. Já a China jamais aceitaria mansamente um status modesto depois de ascender meteoricamente e se tornar a segunda maior economia do mundo. Afinal, o anúncio “Made in China” de Xi, estabelecendo o objetivo para seu país de dominar alguns dos principais setores da economia e ser em grande medida autossuficiente em outras áreas, é de 2015, anterior às tarifas do expresidente Donald Trump e dos banimentos de tecnologias do presidente Joe Biden. O momento unipolar não poderia durar eternamente. A história não tinha acabado.
Mas o retorno da competição entre grandes potências é parte de uma história ainda maior. Tensões em termos de poder bruto são esperadas quando novos países ganham poder e influência. Mas a ascensão da China e o retorno da Rússia também devem ser entendidos como parte de um equilibrismo cultural – respostas não meramente ao domínio geopolítico dos EUA ao longo das três décadas recentes, mas também à disseminação do liberalismo pelo mundo.
Após anos de globalização e integração, Xi e Putin preocupavam-se com a possibilidade de seus países estarem escapando de seu controle, ficando mais influenciados por um conjunto de valores globais em detrimento de seus valores tradicionais, e ambos se movimentaram para reafirmar seus interesses e culturas nacionais em detrimento da influência cosmopolita. Impulsos similares motivaram o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, o expresidente brasileiro Jair Bolsonaro e outros líderes populistas. Eles atacam ideias e instituições do liberalismo em seus países – os partidos estabelecidos, os tribunais e os meios de comunicação – por se preocuparem com a possibilidade de um mundo aberto corroer seu antigo estilo de vida.
AMEAÇA INTERNA. O elemento mais perigoso dessas tendências não é o fato de Rússia e China agirem mais agressivamente na arena global. O Ocidente é poderoso o suficiente para manter essas forças sob controle. Mais preocupante é o fato de essa reação cultural aparentemente ter infectado o Ocidente e, de fato, os próprios EUA, ameaçando as fundações do nosso mundo moderno e liberalizado. A ascensão do populismo no Ocidente ataca o cerne da maior realização da política e da economia do Ocidente: a criação de sociedades livres e dos livres-mercados dentro do estado de direito.
A crise do liberalismo global não emerge em um vácuo; é resultado de sociedades em rápida transformação e líderes que capitalizam sobre temores decorrentes de toda essa mudança. De fato, para a maioria das pessoas, a globalização e a revolução digital mudaram o mundo positivamente de inúmeras maneiras. Essas forças democratizaram a tecnologia, favoreceram a inovação, aumentaram a expectativa de vida, disseminaram riqueza e conectaram pontos remotos do planeta.
Mas forças que modernizam tanto e tão rapidamente as sociedades também são, por definição, profundamente desestabilizadoras. Melhorias com frequência subvertem modos de vida tradicionais, deixando em muitos uma sensação de perda das referências. Progressos materiais podem melhorar o padrão de vida médio, mas também têm capacidade de despedaçar comunidades e indivíduos. Grupos marginalizados podem se sentir libertados, mas membros da maior parte da população podem se inquietar. E conforme as empresas privadas ganham eficiência e escala ao transcender fronteiras nacionais, as pessoas se sentem cada vez mais impotentes.
‘ABISMO INFINITO’. O arcebispo Desmond Tutu, que desempenhou um papel crucial guiando a África do Sul do apartheid à democracia, escreveu certa vez que “ser humano é ser livre”. Todos nós queremos ser livres. Nós queremos escolha, autonomia e controle de nossas vidas. E ainda assim, também sabemos que, quando adotam a liberdade, os seres humanos podem acabar se sentindo profundamente desconfortáveis. Liberdade e autonomia com frequência ocorrem em detrimento de autoridade e tradição. Conforme as forças aglutinadoras da religião e dos costumes desaparecem, o indivíduo ganha, mas as comunidades com frequência perdem. O resultado é que nós podemos ficar mais ricos e livres, mas também ficamos mais sozinhos. Nós buscamos algo – ou algum lugar – que supra essa sensação de perda, um vazio que o filósofo francês Blaise Pascal chamava de “abismo infinito”.
Ao longo da história, governos têm definido o que dá sentido à vida, orientando as pessoas a servir a Deus, à pátria ou à causa comunista. Os resultados têm sido com frequência desastrosos. O Estado liberal, em contraste, não diz aos seus cidadãos o que torna a vida boa, deixando isso para os indivíduos. E instala uma série de procedimentos – eleições, livre expressão, tribunais – para ajudar a garantir liberdade, justiça e igualdade de oportunidades. As sociedades modernas protegem nossas vidas e liberdades para que possamos individualmente buscar felicidade e plenitude, definindo-as como nos apeteça contanto que isso não interfira na capacidade alheia de fazer o mesmo.
Mas construir nosso próprio sentido da vida não é fácil; é muito mais simples consultar a Bíblia ou o Alcorão. Muitos consideram o projeto racional do liberalismo um substituto precário à fé sublime em Deus que no passado inspirou os homens a construir catedrais e escrever sinfonias. Ao descrever o triunfo da democracia liberal na versão estendida de seu famoso ensaio O fim da história, que virou livro, Francis Fukuyama aumentou sua frase marcante para dar título à obra batizando-a como O fim da história e o último homem. Fukuyama preocupouse com a possibilidade de, apesar de enriquecer as sociedades ocidentais e tranquilizá-las, a vitória sobre o comunismo também ter transformado todos em indivíduos passivos. A imagem conjurada por Fukuyama após a vitória sobre o comunismo era a de pessoas sem grandes causas ideológicas para defender, pessoas que passariam a vida em busca de necessidades materiais e desejos – e sentindo-se vazias, sozinhas e deprimidas.
O populismo, o nacionalismo e o autoritarismo preenchem esse vazio. Oferecem às pessoas o que o acadêmico alemão-americano Erich Fromm classifica como “fuga da liberdade”. Psicólogo eminente e estudioso da ascensão do fascismo, Fromm argumenta que, quando experimentam o caos da liberdade, os seres humanos se assustam. “O indivíduo atemorizado busca alguém ou algo a que se agarrar, não suporta mais ser seu próprio eu individual e tenta freneticamente livrar-se dele e sentir-se seguro novamente pela eliminação de seu fardo: seu eu”, escreveu Fromm.
Ao explicar sua própria ideologia antiliberal, Orbán tem argumentado que o liberalismo coloca foco demais sobre o indivíduo e seu ego. “Há certas coisas muito mais importantes do que ‘eu’, do que meu ego: a família, a nação, Deus”, disse ele a Tucker Carlson no ano passado. As políticas de Orbán (presumivelmente) pretendem colocar essas coisas em um pedestal e, nas palavras de Fromm, eliminar o fardo do eu. Seguindo uma linha dessa mesma cartilha, Putin implora aos russos que não caiam no canto da sereia ocidental, da autoexpressão individual, mas, em vez disso, tornem a Rússia grande novamente. Xi fala em termos similares a respeito do grande projeto chinês de rejuvenescimento nacional, que celebra a cultura da China como algo distinto do individualismo ocidental.
OCIDENTE+. É importante reconhecer que, em termos materiais, o Ocidente continua forte. A coalizão que apoia a Ucrânia – que reúne EUA, Canadá, Europa, democracias do Leste Asiático, Austrália, Cingapura e alguns outros países, e poderia ser chamada “Ocidente+” – abrange cerca de 60% do PIB global. Com a crise na Ucrânia e a ameaça russa, a Europa ficou mais unificada, e o Ocidente+, mais unido do que jamais esteve. Manter a aliança unida será um desafio, mas um desafio menor que a Guerra Fria, quando muitos caminhos buscavam uma terceira via em relação aos EUA e à URSS. Se for bem-sucedido, porém, o Ocidente+ poderia fomentar e expandir a zona de paz e liberdade.
Os diplomatas que fundaram a União Europeia eram conhecedores da história e estavam determinados a garantir que a guerra nunca retornasse à Europa. Os atuais líderes europeus estão começando a infundir suas decisões cotidianas de um senso similar de responsabilidade histórica. Desde sua fundação, a União Europeia sonha grande, mas nunca conseguiu superar suas divisões e agir como uma unidade coerente. Se a Europa finalmente se tornar uma jogadora estratégica na arena internacional, isso poderia mudar – o que poderia constituir a maior consequência geopolítica da invasão russa.
Os EUA, de sua parte, também devem agir com uma mentalidade mais histórica e se lembrar da principal lição do século passado: um sistema internacional no qual o jogador mais poderoso se recolhe em isolamento e protecionismo será marcado por agressão e antiliberalismo. O envolvimento pode assumir várias formas. Os EUA poderiam agir em concerto com uma Europa mais unificada, juntamente com Japão, Coreia do Sul, Austrália e Cingapura – talvez apoiados em certas ocasiões por Índia, Turquia e alguns outros países. Em vez de uma só hegemonia fazer vigorar a ordem internacional, o sistema poderia ser instituído por uma coalizão de potências unidas em torno de interesses e valores comuns.
INTERNO. Além do desafio de sustentar uma ordem liberal internacionalmente, existe o desafio de defender o projeto liberal dentro das sociedades – e ambos estão conectados. Pense na Índia. Sua ascensão econômica tem sido acompanhada pela irrupção de uma versão doméstica de nacionalismo populista, chamado Hindutva, uma forma de supremacismo hindu. A Índia do primeiro-ministro Narendra Modi sintetiza um problema global maior que os EUA terão de confrontar: como se aproximar de possíveis aliados cujas políticas nacionalistas possuem predisposições antiliberais?
Homens-fortes populistas de todo o mundo alegam frequentemente que os valores de uma sociedade aberta – pluralismo, tolerância, secularismo – são importados do Ocidente. Dizem estar construindo uma cultura nacional autêntica, distinta do liberalismo ocidental. E é possível que a erosão das ideias cosmopolitas e liberais nessas sociedades revele que elas se baseiam em uma elite educada ou inspirada pelo Ocidente, que abaixo da superfície um nacionalismo menos tolerante aguarda sua vez.
O primeiro indivíduo a exercer a função de premiê na Índia, Jawaharlal Nehru, que estudou em Harrow, uma das principais escolas britânicas, e na Trinity College, em Cambridge, disse certa vez ao embaixador americano: “Sou o último inglês a governar a Índia”. O país que Nehru e os líderes pós-independência criaram foi construído sobre valores que eles receberam de suas profundas associações com o Reino Unido e o Ocidente. A Índia deles era um Estado secular, pluralista, democrático e socialista. Eu fui o primeiro a celebrar quando a Índia abandonou grande parte de sua herança socialista, que tinha provocado corrupção e disfunções incalculáveis. Mas o socialismo não é a única ideia importada do Ocidente da qual países estão duvidando. Todo tipo de ideia iluminista – liberdade de imprensa, tribunais independentes, tolerância religiosa – está enfraquecendo em países como Índia, Turquia e Brasil. É verdade que Rússia e China instigam descontentamentos em outros países, mas o fazem explorando negatividades já existentes. Em muitos lugares, o projeto iluminista – do qual a ordem internacional liberal é parte crucial – é visto como um legado do domínio ocidental.
Mas o maior perigo que encaramos é de longe que no coração do próprio Ocidente há pessoas que rejeitam o projeto iluminista. Muitos eleitores nos EUA, no Reino Unido e na França estão optando por populistas que apresentam a si mesmos como opositores absolutos à ordem estabelecida e aos seus valores. Populistas falam da importância suprema de Deus, do país e da tradição. Essas ideias têm uma ressonância poderosa.
DEFICIÊNCIAS. O problema do liberalismo é que ele foi bem-sucedido demais. O liberalismo foi e continua sendo a principal força em prol da modernização política em todo o mundo. Lembrem-se como era a vida séculos atrás: monarquias, aristocracias, hierarquias eclesiásticas, censura, discriminação oficial determinada por lei e monopólios estatais. Com o tempo, todas essas tradições e práticas romperam-se e ruíram em razão do apelo poderoso das ideias liberais – que celebram liberdades e direitos individuais, levam ao poder pessoas comuns e se opõem à tirania e ao controle do Estado. As ideias liberais na economia – o respeito à propriedade privada e o uso dos mercados abertos, do comércio e do livre-câmbio – se estabeleceu em quase todo o planeta, apesar de frequentemente ajustado para garantir maior igualdade econômica. Mas o liberalismo não é um sistema perfeito, e suas deficiências e excessos fornecem ampla matéria-prima para os inimigos o atacarem.
Vivemos em uma era revolucionária. Com todas as mudanças e transformações que têm ocorrido, as pessoas estão saturadas, ansiosas e temerosas em relação a um futuro que pode significar mais rupturas, deslocamentos e a perda do mundo no qual crescemos. Alguns no Ocidente estão prontos para o radicalismo. Alguns de fora consideram esta a hora certa para romper o longo domínio do Ocidente e de suas ideias. Mas se rasgarmos o liberalismo nos EUA e permitirmos que ele seja erodido no exterior, descobriremos que o edifício de ideias e práticas que o liberalismo e a democracia construíram também ruirá. E retornaremos para um mundo mais empobrecido, tenso e conflituoso do que aquele que vimos por gerações.
ARTIGO1047