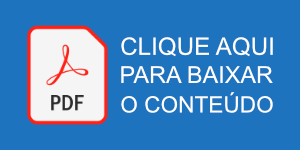Temos de reinventar a máquina pública
Para a ex-secretária da Fazenda de Goiás, as corporações resistem às reformas e tomaram conta do País. José Fucs – O Estado de S. Paulo – 17 de janeiro de 2018
A economista Ana Carla Abrão Costa* construiu uma carreira de sucesso no setor privado, mas foi pelos resultados que alcançou como secretária da Fazenda de Goiás, em 2015 e 2016, que ganhou os holofotes. Com “mão de ferro”, ela trancou o cofre, cortou despesas, lutou contra privilégios no setor público e conseguiu privatizar a Celg, a companhia estadual de energia. Em apenas dois anos, colheu um resultado invejável: transformou o déficit primário (resultado sem inclusão dos juros da dívida pública) do Estado, de R$ 650 milhões em 2014, em um superávit de R$ 1 bilhão em 2016. Nesta entrevista, Ana Carla, que acabou de se separar do economista Persio Arida, um dos “pais” do Plano Real, com quem foi casada cinco anos, analisa o quadro fiscal do País, faz uma radiografia da situação de Estados e municípios e avalia o desempenho do governo Temer na economia. Ela defende a necessidade de se reinventar a máquina pública, para enfrentar os privilégios das corporações, e critica a proposta de flexibilização da chamada “regra de ouro”, que impede o governo de se endividar para pagar gastos correntes, como a folha do funcionalismo.
O Brasil atravessa uma crise fiscal sem precedentes. O governo federal está entrando no quinto ano com déficit nas contas públicas. Alguns Estados, como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, e muitos municípios estão quebrados. Outros, à beira da falência. Como a senhora vê o quadro fiscal do Brasil hoje?
Nós temos um quadro fiscal gravíssimo, mas a gente precisa relativizar as coisas. Em 2015, o Brasil estava indo aceleradamente para o precipício. Desde então, foram tomadas algumas medidas para tentar desacelerar esse processo, mas ainda não deu para reverter a situação totalmente – e isso a gente precisa fazer. Acredito que a eleição de 2018 será fundamental para responder se vamos conseguir mesmo reverter esse processo ou voltar a acelerá-lo. Não adianta adotar só medidas paliativas, que foi o que caracterizou boa parte dos ajustes dos Estados e municípios ao longo dos três últimos anos. Os ajustes realizados a partir de 2015 foram em grande parte conjunturais, mas vamos precisar enfrentar uma agenda estrutural. Agora, eu acredito que isso só deve acontecer em 2019, dependendo do resultado da eleição.
Como a gente chegou a esse ponto?
Esse processo de desequilíbrio fiscal se acentuou a partir da Constituição de 1988. A Constituição Cidadã está cobrando o seu preço agora. O processo de desequilíbrio foi se agravando ao longo do tempo, mas, sem dúvida, o segundo governo Lula e os governos Dilma pisaram no acelerador e geraram uma trajetória de desequilíbrio muito mais acentuada, por conta de decisões equivocadas de política econômica. Reverter esse processo é custoso. A agenda populista é muito fácil de ser colocada, mas muito difícil de ser retirada.
Nas últimas semanas, ganhou corpo a discussão sobre uma possível mudança na chamada “regra de ouro”, que impede o governo de se endividar para pagar gastos correntes, como a folha do funcionalismo. Qual é a sua visão sobre essa questão?
Essa é uma discussão que veio com atraso e de forma extemporânea. Quando se optou por um ajuste gradual, ao limitar o aumento de gastos à inflação do ano anterior, essa questão já estava implicitamente colocada, mas por uma série de fatores não veio à tona. Agora, ficou claro que será difícil cumprir a regra de ouro e o teto de gastos ao mesmo tempo, porque o teto prevê déficits elevados, ainda que decrescentes, nas contas públicas, por vários anos. Então, tecnicamente, o governo está dizendo que é melhor focar no teto e flexibilizar a regra de ouro. O ponto é que a gente não tem de discutir a mudança na regra de ouro, que é uma condição predefinida, mas sim o gradualismo no ajuste e a manutenção dessa estrutura de gastos que está levando o País para o buraco.
O que é preciso fazer para resolver o problema?
Nós precisamos definir se vamos fazer um ajuste gradual e mexer na regra de ouro ou enfrentar as fontes do problema, que são a rigidez orçamentária, os subsídios setoriais, a estabilidade dos servidores e o tamanho da máquina pública e da atividade estatal. Em relação à Previdência, qual a reforma que a gente quer? É uma reforma mais branda, ainda protegendo alguns setores, algumas classes, alguns privilégios, ou uma reforma mais ampla, que enfrente também essas questões? Quando se coloca o foco na solução, sem discutir de forma profunda e transparente o problema, a gente perde a oportunidade de mostrar à sociedade as escolhas que têm de ser feitas e acaba por esconder o conflito distributivo que está por trás. Há uma série de privilégios por baixo dessas escolhas e da estrutura orçamentária estabelecida lá atrás pela Constituição que está se mostrando custosa para o País.
Faz sentido discutir essa questão no momento, com a proximidade das eleições?
Discutir isso em ano eleitoral é pedir para ter um encontro com o caos em 2019. Mais que isso é comprometer o futuro. A regra de ouro é o último pilar que nos resta de responsabilidade fiscal. Será que é possível fazer um debate desses em um ano eleitoral, com um Congresso Nacional que, pelas decisões mais recentes, vem flexibilizando o ajuste fiscal em todas as propostas apresentadas pelo governo? Se o Congresso discutir essa questão, é provável que a estenda para Estados e municípios, abrindo a possibilidade de eles se endividarem para pagar gastos correntes, que é o foco do desequilíbrio das finanças dos entes subnacionais. Aí, haverá o agravamento do quadro fiscal que já é muito grave. Se, em 2019, o presidente que assumir entender, eventualmente, que deve manter o gradualismo e mexer na regra de ouro, aí será diferente, até porque essa questão deverá ser discutida na campanha.
O governo tem liberado bilhões de reais para tentar aprovar medidas no Congresso, como a reforma da Previdência. Como a senhora vê esse movimento, diante do desequilíbrio nas contas públicas?
Hoje, no âmbito da reforma da Previdência, precisamos refazer as contas. É preciso entender quais serão os benefícios da reforma com a desidratação que ocorreu no processo de negociação realizado no Congresso e o que estamos dando em troca ou flexibilizando para conseguir sua aprovação. Tudo tem um limite do ponto de vista de custos e benefícios. A moeda de troca está ficando cada vez mais cara. À medida que o processo eleitoral for se aproximando, essa relação deverá ficar ainda mais desbalanceada. A equipe econômica tem colocado propostas muito claras e corretas do ponto de vista do ajuste, mas ao mesmo tempo o governo vem fazendo concessões que começam a mudar esse balanço de uma forma muito complicada.
Ainda há espaço para cortes nos gastos do governo?
Tenho opinião muito radical em relação a isso. Há e há muito espaço para corte, porque a máquina é ineficiente. Eu nunca vou me convencer de que não há espaço para corte. O governo gasta muito e gasta mal. Há espaço também para alocar de forma mais eficiente os recursos economizados com os cortes. Eu fiquei indignada com aquela história dos passaportes. No meio do ano, época de férias, de repente faltou passaporte. Aí veio aquele movimento corporativista dizendo que foi porque o governo cortou o orçamento e faltou recurso para imprimir passaporte. Eu pedi os orçamentos completos da Polícia Federal de 2016 e 2017, para poder comparar as alocações de recursos com salários, benefícios, penduricalhos, custeio e investimento, mas nunca recebi. Estou certa de que o orçamento de 2017 é maior que o de 2016. Sabe em que linha? Na de pessoal. Tenho certeza de que, se eu olhar esses orçamentos, consigo identificar onde o governo corta e onde ele gasta os recursos da PF. Garanto que não faltaria dinheiro para passaporte. Não falta recurso nesse País. Falta gestão, falta eficiência e falta alocar direito os recursos. Então, dá para cortar. Agora, eu digo isso do ponto de vista técnico. Do ponto de vista político, não tenho voto para decidir o que fazer. É muito mais complicado. Essa foi uma lição que eu aprendi rapidinho quando cheguei na Secretaria da Fazenda em Goiás.
Até que ponto o problema fiscal do governo federal contagiou os Estados e os municípios?
Muitas vezes, a gente foca na macroeconomia e não olha tanto para os entes subnacionais. O processo de desequilíbrio dos Estados e municípios está intimamente ligado à Nova Matriz Econômica. Assim como o governo federal entendeu que era acelerando os gastos que iria se reverter a crise que já estava colocada naquela altura, por fatores internos e não externos, esse mesmo incentivo foi dado para os Estados. Todos foram se endividando, sem condições de fazê-lo, e ao longo desses anos a gente teve um afrouxamento da Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei é do ano 2000, mas foi perdendo eficácia por causa do afrouxamento ocorrido tanto na parte de endividamento quanto na parte de pessoal.
Foi por falta de controle e de fiscalização que esse afrouxamento aconteceu?
Primeiro, porque houve um processo de incentivo mesmo. Na parte de dívida, o governo federal usou e abusou das excepcionalidades e deu empréstimos a quem não tinha capacidade de se endividar. O secretário do Tesouro na época, Arno Augustin, simplesmente usou o seu poder de criar excepcionalidades e estimulou os Estados a se endividar, o que gerou um aumento de gastos muito grande. Mais que isto, os Tesouros estaduais e municipais deixaram de ser utilizados para viabilizar investimentos e passaram a cobrir gastos correntes. Como havia facilidade de se obter empréstimos, os investimentos ficavam por conta do endividamento ou de penhora de royalties e antecipação de receitas, enquanto os Tesouros foram direcionados para cobrir gastos obrigatórios e correntes. Por outro lado, nas despesas de pessoal, houve, sim, uma falha de controle muito grande por parte dos Tribunais de Contas e do próprio Tesouro. As contabilidades estaduais foram desmontadas e particularizadas e o Tesouro perdeu a sua capacidade de avaliar a trajetória de desequilíbrio de Estados e municípios.
A senhora está se referindo às diferentes formas de contabilização das despesas com pessoal que os Estados e municípios adotaram?
Exatamente. O que aconteceu? Ao longo desses anos todos, à medida que Estados e municípios foram chegando próximos dos limites de comprometimento da receita com despesa de pessoal, de 60% no caso dos Estados, começou a se criar formas de aumentar esse comprometimento acima do limite, sem que isso ficasse visível. São os auxílios todos – auxílio-alimentação, creche, livro, paletó, as verbas indenizadoras, inativos, pensionistas. Tudo fora dos critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso entrava como despesa de custeio e não de pessoal. Os próprios Tribunais de Contas geraram válvulas de escape para que os limites não fossem atingidos. Se não atualizarmos a Lei de Responsabilidade Fiscal, não vamos conseguir desatar esse nó.
Quer dizer que os Tribunais de Contas, de certa forma, foram coniventes com as manobras fiscais?
Eu diria que foram mais que coniventes. Foram ativos nesse processo. Eles próprios encaminharam as coisas nessa direção. Interpretaram que esses penduricalhos todos não eram despesa de pessoal. É o que conto lá de Goiás. Quando cheguei na Secretaria da Fazenda, no início de 2015, e vi que o cheque que eu fazia a cada final de mês chegava a 80% da receita corrente líquida, bem acima do limite de 60%, logo percebi que tinha alguma coisa errada. Os quase 20% acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal não eram verbas de custeio. Essas despesas entram na contabilidade estadual, com base nas definições do Tribunal de Contas, como verba de custeio, mas na verdade são despesas de pessoal. Então, pelo lado do endividamento, os Estados tiveram incentivos para se endividar, liberando os Tesouros para aumentar os gastos correntes. Pelo lado da despesa de pessoal, tiveram o aval e mesmo o incentivo por parte dos Tribunais de Contas para escamotear a realidade dos números.
Isso aconteceu também nos municípios?
Olhando hoje os municípios, percebe-se que a mesma coisa aconteceu. Na minha avaliação, em menor grau. Mas a imagem que eu uso é de que estamos todos num rio, descendo a correnteza. Alguns ainda se seguram num galho aqui, num galho acolá, mas está todo mundo indo na mesma direção. Hoje, o problema dos subnacionais está numa única linha de despesa, que é a despesa de pessoal. Ela se abre em funcionários ativos e inativos. Alguns têm mais problemas com inativos, com a Previdência, como o Estado Rio de Janeiro e o município de São Paulo, que também tem um problema na área muito significativo. Outros têm mais problemas com os funcionários da ativa. Mas, tanto num caso como no outro, estamos falando de um desequilíbrio estrutural que está em uma linha de despesa só, a de pessoal.
A senhora falou de mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal. O que deve ser feito para evitar que esses problemas todos se repitam?
Acho que esse é fio que vai desatar o nó todo dos subnacionais. Os Tribunais de Contas interpretam a Lei de Responsabilidade Fiscal às suas maneiras. Acredito que, no momento em que se alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal, chamando de despesa de pessoal o que de fato for despesa de pessoal, vamos dar um passo enorme para a solução do problema. Por que não conseguimos fazer isso em 2016? No projeto original de renegociação das dívidas dos Estados encaminhado ao Congresso, estava prevista a revisão da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas o Ministério Público e o Judiciário fizeram pressão para tirar essa parte. Tiraram também as contrapartidas dos Estados. No dia que a gente fizer essa alteração, vamos mostrar que todos os Estados estão desenquadrados, a maior parte dos municípios está desenquadrada e todos os Tribunais de Justiça e Ministérios Públicos estão desenquadrados. Ninguém tem esses dados, porque eles aparecem como custeio. Eu só sei disso, porque como secretária da Fazenda assinava o cheque e fazia a conta de trás para a frente.
Agora, não é de hoje que há esse problema com o gasto público no Brasil. Mesmo no governo Fernando Henrique, foram tomadas algumas medidas, mas sem entrar fundo no problema. O que acontece?
Acredito que aqui há um problema muito grave que foi se ampliando e se consolidando ao longo do tempo. É uma questão que tem menos a ver com gastar mais ou menos e mais com a eficiência do gasto. Esse é um conceito que é supercaro na iniciativa privada, mas não sensibiliza a máquina pública. Qualquer medida que você tente adotar nessa direção a máquina resiste muito fortemente. No Brasil, as corporações dominaram o processo. Há focos de resistência tão grandes na máquina pública que a sociedade não consegue quebrá-los. Que cidadão brasileiro não sabe hoje que o governo gasta muito e gasta mal? Qualquer um sabe, porque sente a baixa qualidade do serviço público que usa. Isso em todas as camadas da população. Agora, quem está mobilizado? São as corporações, que têm seus subsídios, suas benesses, seus privilégios. O que a gente precisa é quebrar esse processo.
Fora isso, ainda tem o aparelhamento. Quando alguém que não é ligado aos grupos que controlam a máquina assume o poder, não consegue implementar as medidas que propõe. De que forma isso afeta também o desempenho da máquina?
É por isso que eu digo que a gente tem de mudar o modelo.O modelo vigente permitiu que essa máquina fosse aparelhada, ficasse cada vez mais ineficiente e desmontasse todos os sistemas de avaliação, de melhoria dos serviços públicos. Eu digo sempre: o que nós temos de fazer é partir para uma reforma do Estado. Quando se discute a eficiência do gasto, a avaliação da qualidade do gasto, em última instância são pessoas que estão por trás. Se não mudar o modelo de gestão de pessoas, o modelo de funcionamento da máquina, que só pode ser feito com pessoas, não é possível quebrar esse esquema. A senhora pode citar duas ou três medidas que deveriam fazer parte dessa reforma do Estado? A reforma do Estado é uma agenda ampla. Há todo um conjunto de ações administrativas, mas ela inclui outras questões, de planejamento, de revisão de vinculações orçamentárias. Se a gente se concentrar agora na questão administrativa, temos de entender qual é a estrutura administrativa de que esse país precisa. Quais são os órgãos administrativos de que esse país precisa? Vamos esquecer por ora a questão de empresa pública, a privatização, que também é outra agenda fundamental. Qual é o número de pessoas de que cada órgão precisa para funcionar? Qual é a estrutura hierárquica? Hoje, tem gente sobrando em determinadas áreas e faltando em outras. A máquina pública está envelhecida, do ponto de vista etário, principalmente em Estados e municípios. As pessoas vão envelhecendo e não estão capacitadas para as funções que exercem. Entramos num círculo vicioso. Ou a gente desmonta essa estrutura e remonta de uma forma que faça sentido ou o País não vai caminhar. Você pode botar o melhor gestor em qualquer órgão público. Ele vai atuar a 20% da sua capacidade, porque vai ter de identificar as pessoas que vão trabalhar com ele, que vão acreditar no projeto, e enfrentar uma máquina por baixo que está emperrada, enferrujada, cheia de areia e que a gente precisa reinventar.
A senhora foi secretária da Fazenda em Goiás e conseguiu alcançar um equilíbrio financeiro no Estado que ainda está rendendo frutos. O que fez de diferente lá? Qual o segredo para alcançar esse resultado?
Em primeiro lugar, análise técnica. Você olha os números e vê onde pode cortar e corta. Mas isso só é possível com o apoio do gestor e vontade política. No caso de Goiás, o governador Marconi Perillo me convidou para a secretaria com uma agenda de ajuste. Esse é um ponto fundamental. Se não tem o apoio político e a força de quem tem a legitimidade do voto para fazer as mudanças, você não faz. Depois, precisa do apoio de uma base aliada consistente. A Assembléia Legislativa de Goiás chamou a responsabilidade para si e aprovou projetos muito duros, porque o Estado estava na mesma situação do Rio Janeiro. No começo, as pessoas diziam “essa secretária é exagerada, não conhece política, não sabe como são as coisas”. Levei seis meses para convencer os próprios secretários de outras Pastas de que o ajuste não iria liquidar politicamente o governador.
Houve muito “fogo amigo”, então, contra o ajuste que a senhora estava promovendo em Goiás?
Sofri muito mais com o “fogo amigo” do que com a sociedade. Muitas vezes, a Assembléia me dava mais apoio do que eu tinha dentro do próprio governo. Todo mês eu ia à Assembleia, para explicar a situação. Tive também a meu favor uma conjuntura favorável, quando tudo começou a desmoronar. Brasília foi muito importante. Temos de lembrar que, em 2015, 2016, quando eu estava na secretaria, o Senado encampou uma agenda dos Estados de forma muito forte. Houve as renegociações das dívidas, a discussão das contrapartidas, a atualização da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em Goiás, embora a renegociação da dívida essa não fosse a salvação, ajudou a segurar esse processo todo. Mas muitos Estados se fixaram nisso, dizendo que seria a salvação e que não precisariam fazer ajuste – e deu no que deu.
Além do “fogo amigo”, que outras dificuldades a senhora enfrentou nesse processo de ajuste? Uma das principais dificuldades que enfrentei foi quando eu pedi para os outros Poderes me dizerem o que efetivamente era salário e o que eram penduricalhos nos pagamentos que a secretaria da Fazenda realizava. Graças à conivência do Tribunal de Contas, eles classificavam tudo como custeio e não como folha de pessoal. Como falta dinheiro na época de pagar a folha, eu dizia que não precisaria pagar no mesmo dia o que fosse penduricalho, porque teoricamente, se não é despesa de pessoal, poderia pagar em outro dia. Mas eu nunca consegui esses dados, porque eles ligaram direto para o governador para ele me enquadrar – e ele enquadrou. O governador me chamou e disse: “Secretária, vamos ficar aqui no âmbito do Executivo”.
Entre as medidas que a senhora tomou para reverter o desequilíbrio fiscal em Goiás, quais foram as mais importantes?
Mais que tudo, a folha de pagamento do funcionalismo, que consumia 78% da receita corrente líquida. A gente conseguiu segurar o crescimento da folha. O governador revogou aumentos que ele mesmo tinha dado no mandato anterior. Não houve concurso, mas isso o Estado já não vinha fazendo há muito tempo. Não houve novas contratações. Outro fator muito importante foi o aumento da eficiência na arrecadação. Não houve aumento de impostos, mas a Receita Estadual em Goiás teve um papel importante na fiscalização e no combate à sonegação. Na hora em que a gente segurou os gastos e aumentou a eficiência na arrecadação, mesmo no pior momento da crise, em 2015/2016, Goiás teve crescimento real de arrecadação.
Hoje, a senhora é presidente do Conselho Fiscal de São Paulo. Como está a situação fiscal de São Paulo? Qual foi o “pepino” que o prefeito João Doria herdou?
Quando o prefeito João Doria assumiu a Prefeitura, houve uma surpresa. Até porque sempre se alardeou que o município de São Paulo estava muito bem do ponto de vista fiscal, por ter sido o grande beneficiário da renegociação de dívidas, com a Dilma. Mas quando a gente analisou os números em detalhes visualizou um rombo de R$ 7,5 bilhões nas contas municipais. Foi um grande susto. Ué, mas não estava tudo bem?
Como a gestão do prefeito Fernando Haddad conseguiu abafar esse rombo?
De um lado, as receitas estavam superestimadas, principalmente receitas de capital. Eles contavam com empréstimos do governo federal ao longo de 2017 que nunca haviam acontecido em anos anteriores – e obviamente não aconteceram de novo. Por isso, infraestrutura e investimentos de forma geral sofreram tanto. Por isso, também, volta e meia o prefeito João Doria sofre críticas relacionadas a essa questão. De outro lado, havia uma subestimação de gastos enorme. Na hora que se fez os dois ajustes, apareceu o problema. Ao longo do ano passado, o Caio Megale, secretário de Finanças, fez um trabalho excelente, em que começou a recuperar a receita. Ele fez o Refis (programa de refinanciamento de débitos com a Prefeitura), que é um mecanismo cada vez mais usado por Estados e municípios e que mostra o quanto a situação é delicada. Mas ele fez também um corte de gastos que não é desprezível. Com isso, relativamente ao caos fiscal que outros entes subnacionais vivem, o município termina o ano bem equilibrado. Agora, tem a bomba da Previdência, que, como eu disse há pouco, é um problema significativo em São Paulo e terá de ser enfrentado.
Em geral, a gente costuma relacionar os benefícios recebidos por fora do salário, tipo auxílio-paletó, auxílio-moradia, salário-esposa e outros do gênero, com o Judiciário. Mas a senhora diz que os servidores públicos do Executivo também têm “blindagens” e proteções, nas quais não se consegue mexer. Que casos concretos a senhora pode citar?
Antes, eu sempre discutia muito a questão da estabilidade quando falava do funcionalismo ligado ao Executivo. Mas o que eu percebo hoje é que o grande problema não está na estabilidade, mas nas leis locais. Por que há tanto sindicato de servidor público hoje no Brasil? A Confederação dos Servidores Públicos tem mil e tanto sindicatos filiados. Localmente, cada carreira do setor público se mobilizou desde sempre para se proteger. O Estatuto do Servidor Público de São Paulo, por exemplo, é da década de 1960. Além da estabilidade, o servidor queria a garantia de progressão na carreira, chegar ao topo da carreira em determinado tempo. Só que isso foi virando uma corrida. As categorias foram olhando para umas para as outras e querendo os mesmos benefícios. Isso fez com que as leis municipais e estaduais gerassem uma blindagem inadmissível ao servidor no processo.
Qual é o impacto que isso tem na administração?
Por esse sistema, as pessoas progridem independentemente da sua produtividade, da sua performance. Além disso, elas incorporaram nas suas aposentadorias os ganhos relativos à produtividade. Então, você começa a criar uma série de distorções que fazem com que a máquina se alimente dela própria. É um processo que está alastrando por toda a administração pública do País. E, se você perguntar, “o servidor está feliz?”, verá que não está. Se você conversar hoje com o servidor público, ele vai dizer “eu não sou valorizado, tem indicação política com benesses, e eu, que trabalho, ninguém me reconhece, não tenho condições de trabalho, ninguém investe na minha capacitação”. Então, a gente está num equilíbrio ruim, porque essa máquina pesa para a sociedade, o servidor não está feliz, porque sabe que não está prestando o serviço que gostaria de prestar, e o País não tem mais condição fiscal de carregar essa máquina. A boa notícia é que isso está nos níveis locais. Se der para trabalhar isso nos níveis locais, não é necessário aprovar uma emenda constitucional para mudar a situação. Precisa de diálogo, bom senso e de líderes e gestores que “comprem” essa agenda e coloquem isso de forma transparente para a sociedade.
No setor público, há uma resistência enorme à adoção da meritocracia. Sempre imaginei que era um consenso a ideia de que as pessoas com mais mérito devem ser beneficiadas. Por que isso acontece?
Esse é um bom ponto. Você vai em alguns órgãos públicos e eles falam: “Aqui tem meritocracia, a gente já implantou, está em funcionamento”. A cidade de São Paulo, por exemplo.Tem meritocracia, tem lá critérios definidos com base na meritocracia. Mas o que acontece? Nesses lugares em que ela está implantada, como na área de educação – e aí é que eu digo que o sistema está muito cheio de areia –, todo mundo é avaliado, mas todo mundo tira 10 e todo mundo tem direito ao bônus de performance. Se 100% têm bônus de performance, se 100% têm bônus de arrecadação, então não se trata de um sistema de meritocracia. Quando todo mundo tem avaliação 100% e todo mundo tem direito a um bônus, então não tem avaliação de mérito. Na prática, vira um 15º salário. Alguns entes da Federação se orgulham e se gabam de haver implantado o sistema meritocrático, mas ao longo do tempo, graças ao poder das corporações, que foram assumindo o papel de protagonista dentro do Estado, isso virou uma incorporação salarial. Quem é que vai mexer nisso hoje? É uma briga. Mas nós teremos de mexer. Agora, há também aqueles que realmente são contra a meritocracia. É inacreditável. Hoje, no Brasil, você vê manifestações de servidor público com faixa “somos contra a meritocracia”. Os conceitos de isonomia e de que todo mundo tem de chegar ao topo foram incorporados dentro do setor público e afetam a qualidade dos serviços para o cidadão. O foco não deve ser o servidor, mas o cidadão. Nós focamos em dar direitos aos professores, que, claro, merecem. O servidor também tem de ter condições de trabalho, ser bem remunerado. Mas temos de focar no cidadão e na qualidade do serviço que ele recebe, e no aluno, no caso da educação.
No exterior, que modelo pode servir de exemplo para o Brasil
Eu estudei muito o caso da Inglaterra, que é emblemático. A Inglaterra fez uma reforma administrativa logo após a crise global de 2008, dentro do grande programa de ajuste fiscal feito pelo David Cameron (ex-primeiro ministro britânico). Há um capítulo específico sobre a melhoria do serviço público. Hoje, a Inglaterra tem o mesmo número de servidores que tinha em 1930, porque houve um processo de redução da máquina pública. Houve um processo de digitalização dos serviços. Na esteira do corte de gastos feito após a crise de 2008, houve todo um conjunto de ações, mas principalmente a busca de modernização do serviço público e de melhoria na prestação de serviços para o cidadão. Lá, não tem estabilidade escrita na lei, como no Brasil, mas ela existe culturalmente. Só que o governo criou processos de gestão que estimulavam as pessoas a aderir a um programa de demissão voluntária, porque não se viam mais naquele processo. Ou, então, elas foram simplesmente demitidas, por baixa performance. Eles conseguiram reduzir em 55 mil, o equivalente a 20% do total, o número de funcionários públicos nesse período.
Como essa experiência da Inglaterra pode servir para o Brasil?
Mais uma vez, a gente precisa implantar no Brasil um sistema em que o serviço público tenha foco no cidadão e o servidor público esteja sujeito à avaliação de performance, à demissão. Claro que isso deve se dar por meio de processos estruturados, para evitar perseguição política, mas tem de abrir essa possibilidade. Hoje, não se consegue fazer isso. Eu apanho muito nas redes sociais por causa disso. O servidor público acha que sou contra ele, mas eu digo que não estou falando sobre servidor público, mas sobre serviço público. Da mesma forma que, na escola do meu filho, se tem um professor ruim, que falta à aula, ele é demitido, isso também deve ser possível na escola pública. Como o próprio nome já diz, o servidor está ali a serviço do cidadão. Então, vamos focar no cidadão – e, claro, dar todas as condições para o servidor servir bem o cidadão. Hoje, o sistema está focado no servidor e não no cidadão. Precisamos mudar isso, até em benefício do próprio servidor.
O difícil será convencer os sindicatos e organizações do funcionalismo a aceitar isso…
Outro dia mesmo vi uma notícia de que a Confederação dos Servidores Públicos vai colocar outdoors dizendo que, se a reforma da Previdência entrar em votação, o Brasil vai parar. Que servidor público é esse? Tenho certeza de que a maioria dos servidores não se vê refletida nesse discurso. Está lá fazendo o seu trabalho, muitas vezes sem condições adequadas, sem computador. Só que o Congresso Nacional é muito sensível a tudo isso. Nas minhas conversas com o pessoal que participou do processo do Cameron na Inglaterra, que a Oliver Wyman (empresa de consultoria americana da qual Ana Carla é sócia no Brasil) apoiou, eu perguntei como eles lidaram com os sindicatos dos servidores públicos. Um sócio nosso me deu uma resposta interessante: “Um dos maiores legados que a Margaret Thatcher nos deixou foi que os sindicatos não dão as cartas na Inglaterra há muito tempo”. Infelizmente, no Brasil, o processo ainda é muito dominado por eles.
Além da necessidade de avaliação do servidor público, há também a necessidade de se avaliar mais os resultados das políticas públicas. O que pode ser feito nesse sentido?
Toda política pública, em particular as sociais. precisa ser avaliada para que você saiba se ela faz sentido ou não. A gente viu o caso do Fies, o programa de financiamento estudantil do governo federal. Ele nunca tinha sido avaliado e quando foi a gente viu a bomba que era. Havia um rombo bilionário. Se a gente está com foco no resultado e não no processo, tem de olhar o resultado. Se o resultado é diferente do que se esperava, temos de mudar o processo, sem vergonha de fazer isso. O Brasil está muito focado no processo. A gente precisa se voltar para os resultados – e isso só se consegue fazendo avaliação de resultado das políticas públicas.
Parece que, hoje, a avaliação de resultados está começando a ser mais discutida e implantada aqui e ali. Qual é a melhor forma de avaliar as políticas públicas?
Há metodologias consagradas no mundo inteiro de avaliação de políticas públicas. O FMI apoiou um livro sobre essa questão publicado recentemente pela secretaria do Tesouro, do qual o Rogério Boueri, da Secretaria de Política Econômica, foi um dos coordenadores. A gente precisa implantar essas metodologias, para avaliação de gastos sociais, em todas as esferas. Isso precisa ser algo natural. Hoje, uma empresa pede isenção fiscal num Estado para realizar um investimento, muitas vezes de centenas de milhões de reais, às vezes de quase R$ 1 bilhão, ao longo de um período. Isso é dinheiro público que vai deixar de entrar no Tesouro. Só que não é feita uma avaliação de política pública para saber o impacto que isso tem efetivamente na economia local, quantos empregos são gerados e qual o aumento da arrecadação do Estado ao longo do processo todo. No meio do caminho, se não der resultado, tem de parar, repensar, descontinuar. É o que se faz no setor privado e o que faz sentido. No setor público, dando certo ou dando errado, a gente continua com a mesma política. Por quê? Porque tem um monte de gente que está se beneficiando daquele processo e resiste a qualquer avaliação.
Tudo isso tem muito a ver com o papel do Estado na economia e na vida das pessoas e com a discussão sobre o tamanho que o Estado deve ter no Brasil. Isso não tem de ser discutido e implementado também?
Acredito que essa agenda de Estado tem o pilar da reforma administrativa, o pilar de planejamento e o pilar das privatizações. Uma das coisas surpreendentes para mim quando cheguei à secretaria de Fazenda de Goiás – porque eu vinha de uma instituição privada em que o orçamento funciona como uma ferramenta de gestão – foi ver que no setor público ele é uma peça fictícia. A gente também tem de reduzir o tamanho do Estado. Não faz sentido o Estado ter supermercado, indústria química, para fazer medicamento. Precisamos começar a olhar o que nós temos – e sabemos que o governo petista foi muito generoso em criação de novas estatais – e definir qual é o Estado que queremos ter. Vamos continuar aumentando imposto para dar conta desse Estado, com a eficiência que a gente sabe que não existe? Essas três coisas têm de vir juntas e são, inclusive, complementares. Você terá uma máquina mais eficiente, que vai seguir um planejamento, com foco no que faz sentido, e não vai desperdiçar recursos nem energia para questões que podem ser tocadas de forma muito mais eficiente pelo setor privado.
Isso teria algum impacto fiscal?
Teria um resultado significativo. Mas, mesmo que não tivesse, só de melhorar a qualidade do serviço fundamental, já seria algo excepcional. Esse é o ponto. Na minha ordem de benefícios trazidos pela privatização, coloco em primeiro lugar a qualidade do serviço. Em segundo lugar, o “efeito de segunda ordem”, como se diz no economês, o efeito fiscal.
No momento, há uma reforma tributária em discussão no Congresso. Embora o foco deva ser a simplificação e o fim da chamada “guerra fiscal”, há sempre o receio de que isso resulte em aumento de carga tributária, para aliviar todos esses problemas. Como a senhora analisa essa questão?
Eu digo que a reforma tributária está para o Brasil de hoje como o Plano Real esteve para o Brasil na década de 1990. O nosso sistema tributário drena produtividade, eficiência, gera um desperdício enorme de recursos e de agenda. A gente precisa resolver isso. É fundamental. Na hora em que se limpar essa agenda, essa esquizofrenia tributária em que vivemos, vai abrir espaço para agendas muito importantes. Uma vez um empresário me disse: “Ana, a carga tributária no Brasil é alta. Mas se ela custasse só a carga tributária eu estaria de feliz. O problema é que ela me custa um departamento de advogados tributários, três escritórios externos que eu tenho de contratar, inúmeras ações no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), no Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e horas dos meus executivos discutindo a questão, fora os caminhões que trançam o Brasil inteiro para que a guerra fiscal faça algum sentido. Dado isso, quando olho o projeto que está sendo discutido hoje no Congresso, eu tenho muito medo, porque ele não resolve o problema na sua essência e o que a gente precisa não é só resolver guerra fiscal, mas simplificar o sistema como um todo. A gente tem de migrar para um sistema que seja mais racional. O Bernard Appy (economista, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda) tem uma proposta fantástica, que cria uma Imposto sobre Valor Agregado federal, que acaba com guerra fiscal, mas tem uma fase de transição para o novo modelo. Agora, paralelamente, a gente tem de discutir, sim, uma política de desenvolvimento regional. Não dá para achar que Goiás vai ter a mesma capacidade de atrair empresas e investimentos que São Paulo. Então, a gente precisa lidar com as desigualdades regionais de uma forma objetiva, que não seja com a criação de fundos de desenvolvimento Brasil afora.
Alguns analistas dizem que a guerra fiscal só é ruim para o governo e não para as empresas e os cidadãos e quanto mais oportunidade houver de pagar menos impostos melhor. O que a senhora pensa disso?
Originalmente, a guerra fiscal fazia todo sentido. Goiás se desenvolveu a partir da política de incentivo fiscal. Isso é inequívoco. Mas tem um limite e acho que a gente passou desse limite. Chegou um ponto em que uma empresa grande, uma indústria, não paga nada. Eu recebi empresários que sentavam na minha frente e diziam: “Do Mato Grosso tenho isso, do Paraná, aquilo, de Minas, aquilo outro. O que você tem para me oferecer?”. Eles fazem um leilão. Já não ha mais nenhuma correlação com o impacto econômico positivo que o investimento vai gerar. Ao final, não traz nenhum benefício. Normalmente, se fala o seguinte: “Hoje eu não tenho a empresa aqui. Então, se eu cobrar 1% dela, é melhor do que não tê-la”. Só que a conta não é essa. Muitas vezes, na hora de dar incentivo fiscal para uma empresa, você, por isonomia, acaba tendo de reduzir o imposto de todas as outras. Se não faz uma avaliação completa do custo/benefício de cada projeto, não faz sentido. Ou a gente avalia corretamente ou no final o contribuinte vai acabar pagando pela instalação de uma nova empresa. Hoje, na hora que você vê a arrecadação e quanto ela tem de isenção, se dá conta de que isso não faz mais sentido. Tem aí um corte que precisa ser feito. Agora, pela sua complexidade, a reforma tributária não pode ser uma meia reforma. Por isso, comparo muito com Plano Real. Não adianta fazer coisas que vão dar meio certo, porque significa que não vão dar certo. Está na hora de a gente enfrentar os problemas de frente e não ficar com soluções paliativas.
Como a senhora avalia o desempenho do governo Temer e da equipe econômica em relação à questão fiscal e à questão administrativa, da qual a gente está falando?
O governo Temer obteve grandes vitórias. Nas condições em que assumiu, o que ele conseguiu alcançar nesse um ano e pouco é inacreditável. Com a equipe econômica que o governo conseguiu reunir, com a qualidade que a gente conhece, ele conseguir aprovar e implementar medidas concretas, que poderão beneficiar o Brasil por muitos anos: o teto de gastos, a reforma trabalhista, a agenda microeconômica, o cadastro positivo, a lei de falências, a mudança na lei de conteúdo local, a discussão da privatização da Eletrobras, ações que ainda estão em curso. Agora, como a capacidade de articulação do governo foi se erodindo e a unidade do governo em relação à agenda foi se esfacelando, o resultado também está se perdendo. Nós vamos lembrar do governo Temer por grandes conquistas, mas elas estão ficando cada vez mais misturadas com o loteamento político.
A senhora acredita que nas eleições vai haver um debate sério sobre essas questões ou vai ser aquela velha campanha cheia de enganação e mentira?
Eu acho que ao menos o debate vai ser mais qualificado do que em 2014. As redes sociais têm um papel importante nisso e a gente está aprendendo a discutir os temas que são relevantes. Ainda de forma polarizada, emocional, mas houve uma evolução. Você vê hoje uma discussão sobre a reforma da Previdência que até o ano passado não havia. Hoje, a sociedade civil e os movimentos estão se organizando para colocar os temas em debate. Então, acredito que a campanha de 2018 será mais profunda e rica do que a do desastre de 2014.
A senhora acredita, então, que o brasileiro vai mostrar que sabe votar?
Eu estou otimista e espero que sim. Mas, antes disso, pelo menos eu acho que o debate vai ser mais qualificado do que em 2014. Isso vai permitir que as pessoas busquem informação, esclarecimentos, e pensem mais.
O Brasil tem jeito?
Claro que tem. Tenho muita fé e muito otimismo de que a gente vai botar uma agenda em pauta que vai mudar esse País. *É sócia da Oliver Wyman, empresa de consultoria americana, no Brasil. É presidente do Conselho de Gestão Fiscal de são Paulo. Antes, foi secretária da Fazenda de Goiás (2015-16), diretora da área de riscos do Itaú Unibanco, economista-chefe da Tendências Consultoria e analista do Banco Central. Formou-se em economia pela Universidade de Brasília e obteve o mestrado pela FGV de São Paulo e doutorado pela USP.
ARTIGO40