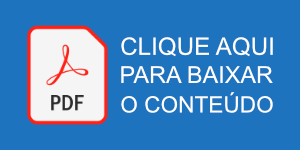Vale tudo pelo equilíbrio fiscal?
Verdadeira responsabilidade não é a harmonia orçamentária em todas as circunstâncias e a qualquer custo
Por André Lara Resende — Para o Valor, de São Paulo – 29/01/2021
A partir da segunda metade dos anos 1990, depois da estabilização da inflação crônica brasileira, passou a haver uma sistemática preocupação de evitar que as contas do setor público saíssem de controle. A preocupação com o descontrole das contas públicas advém da vinculação entre o déficit fiscal e a expansão monetária. Até o fim do século passado, a macroeconomia hegemônica considerava que o descontrole dos gastos públicos e a excessiva expansão da moeda estavam por trás de todo processo inflacionário. Como gato escaldado tem medo de água fria, no Brasil depois da estabilização, a preocupação com o equilíbrio das contas públicas passou a pautar a política macroeconômica.
No momento em que se discute a suspensão do auxílio emergencial à população em nome do equilíbrio fiscal, justamente quando a epidemia de covid recrudesce, é fundamental entender que a verdadeira responsabilidade fiscal não é o equilíbrio orçamentário em todas as circunstâncias e a qualquer custo. Nas atuais circunstâncias, a insistência no equilíbrio fiscal, além de macroeconomicamente equivocada, é moralmente inaceitável. O objetivo deste artigo é examinar mais a fundo as raízes dos equívocos da macroeconomia hegemônica.
Apesar de revista, continua pautada pela lógica da moeda metálica. É incapaz de incorporar em seu arcabouço analítico a moeda fiduciária e o crédito sem lastro na poupança prévia.
Macroeconomia revista
A teoria monetária passou por uma profunda revisão a partir da última década do século passado. Quando ficou claro que o instrumento de política dos bancos centrais não é a base monetária, mas sim a taxa de juros, a relação automática entre a moeda e a inflação foi abandonada.
O “quantitative easing”, QE, um inusitado experimento de expansão monetária sem respaldo analítico prévio consolidado, multiplicou o passivo dos bancos centrais por fatores superiores a dez vezes num espaço de poucos meses, sem que houvesse qualquer sinal de pressão inflacionária. Ficou então patente que não há relação entre a expansão da moeda e a inflação. Todas as economias onde o QE foi posto em prática continuaram a flertar com a deflação.
Abandonada na prática a relação de causalidade entre expansão monetária e inflação, por tantas décadas sustentada pela macroeconomia hegemônica, a restrição conceitual imposta à expansão do crédito público foi reformulada como um limite superior para a relação dívida/PIB.
Em 2009, Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff2, dois expoentes da macroeconomia hegemônica, publicaram trabalho influente sustentando que o limite a partir do qual a economia se desorganizaria seria 90%. Mesmo sem considerar a totalidade do passivo consolidado do Estado, ou seja, o passivo do Tesouro somado ao do Banco Central, antes mesmo da crise de covid, inúmeros países, entre eles Japão, Itália, Grécia, EUA, já tinham ultrapassado esse nível de endividamento.
A reação coordenada das políticas monetárias e fiscais à pandemia durante 2020 voltou a elevar a relação dívida/PIB em todo o mundo. Apesar dos altos níveis de endividamento público e da abundância de crédito monetário, não há sinais da volta da inflação, nem de que as economias avançadas estejam à beira de uma crise fiscal.
Está claro que não existe um limite fatídico para a relação dívida/PIB, a partir do qual se abriria um “abismo fiscal”, na expressão preferida dos analistas brasileiros, e o país entraria em colapso.
Diante de tão flagrante evidência, os principais macroeconomistas americanos deram uma guinada conceitual. No início de dezembro último, Jason Furman e Lawrence Summers3, renomados professores da Universidade Harvard, argumentaram em favor de uma mudança de paradigma: a relação dívida/PIB, ao contrário do que acreditavam, não é um indicador relevante da sustentabilidade fiscal.
Ben Bernanke, ex-presidente do Fed, assim como Olivier Blanchard e Kenneth Rogoff, execonomistas chefes do FMI, concordaram com eles. Como as taxas de juros praticamente nulas não foram capazes de reativar as economias paralisadas pela pandemia, Furman e Summers agora defendem uma política fiscal expansionista, baseada num programa de investimentos públicos.
No Brasil, ao menos por enquanto, a esmagadora maioria dos analistas continua a defender a imperiosa necessidade de equilibrar as contas públicas. Optaram por se dissociar de seus mentores americanos para sustentar seus dogmas. Apelam para a tese da jabuticaba, Brasil é diferente porque o Estado e os políticos não são confiáveis. Sustentam que por aqui o equilíbrio orçamentário é ao mesmo tempo condição necessária para evitar o abismo e condição suficiente para que a economia volte a crescer. Aparentemente, os únicos temas econômicos relevantes são o risco fiscal e as reformas necessárias para garantir o equilíbrio das contas públicas. Tudo mais seria secundário.
O ponto central da tese de Keynes na “Teoria Geral” é que a política monetária precisa ser acompanhada do investimento público para que a economia se recupere. A possibilidade de que, apesar do crédito abundante e dos juros baixos, não haja recuperação do investimento e da atividade econômica não deveria ser novidade.
A possibilidade do que Keynes chamou de uma armadilha da liquidez tem sido efetivamente reivindicada para explicar por que, apesar das taxas de juros muito próximas de zero, as economias contemporâneas continuam estagnadas e sem inflação. No entanto, a solução proposta por Keynes, uma política fiscal expansionista com o aumento do investimento público, continua a ser vista com desconfiança pela grande maioria dos analistas.
Mesmo superado o dogma do equilíbrio fiscal e o fetiche da relação dívida/PIB, a macroeconomia hegemônica continua a não entender que a expansão do crédito prescinde da expansão da poupança. A tese de que a taxa de juros baixa é consequência do excesso de poupança tem origem na análise dos economistas clássicos que precederam Keynes. Segundo os clássicos, a taxa de juros é resultado do equilíbrio entre a oferta e a demanda de fundos para investimento. Conhecida como a teoria dos “loanable funds”, dos fundos disponíveis para empréstimos, foi um dos pontos centrais da crítica de Keynes, para quem a taxa de juros nada tem a ver com a poupança, é determinada no mercado monetário. Para Keynes, a poupança é sobretudo função da renda e investimento do otimismo dos empresários. São ambos pouco sensíveis à taxa de juros. Se não há otimismo e perspectiva de crescimento, a economia pode ficar estagnada, sem investimento, mesmo quando a taxa de juros está baixa e há abundância de crédito.
Para a maioria dos economistas, inclusive os recém-convertidos como Summers, Bernanke, Blanchard e Rogoff, a tese de que os atuais juros excepcionalmente baixos são fruto de um excesso de poupança, de um “savings glut”, é predominante. Além de anacrônica, a tese do excesso mundial de poupança não tem sustentação nos fatos. Desde o início do século, a poupança está em queda, não apenas nos EUA, mas na grande parte das economias ocidentais.
O excesso de poupança não pode ser reivindicado como explicação das baixas taxas de juros. Os juros de curto prazo baixos são consequência da decisão dos bancos centrais de fixar a taxa básica de remuneração das reservas bancárias perto de zero. As taxas mais longas baixas são resultado da combinação de uma extraordinária expansão do crédito promovida pelos bancos centrais desde a grande crise financeira de 2008, com o anúncio, chamado de “forward guidance”, de que pretendem manter a taxa básica nos níveis atuais por tempo indeterminado, mesmo depois da eventual recuperação da economia.
A expansão do crédito privado nunca dependeu da existência de poupança. Só o Estado, restrito pela exigência do lastro metálico, era incapaz de expandir o crédito sem o prévio acumulo de reservas, mas a macroeconomia hegemônica continua a associar toda expansão de crédito a um aumento da poupança. Não foi ainda capaz de incorporar o fato de que, num sistema monetário exclusivamente fiduciário, a expansão do crédito pelo banco central prescinde do aumento da poupança.
Como apontou James Galbraith em artigo recente4, porque continuam a raciocinar com o anacrônico modelo de “loanable funds”, Furman e Summers chegam às conclusões certas a partir de velhos equívocos. Por isso são obrigados a recorrer a obscuros “fatores estruturais” para justificar um suposto excesso mundial de poupança, quando a poupança no mundo está em queda. São também incapazes de compreender as implicações e os riscos da atual combinação de juros próximos de zero com o excesso de crédito criado pelo QE dos bancos centrais.
A dificuldade para entender as atuais taxas de juros está na incapacidade da macroeconomia hegemônica de distinguir fluxos de poupança de fluxos financeiros de crédito. A economia contemporânea não é mais a economia que pautou a formulação do modelo macroeconômico canônico. Desenvolvida a partir do início do século XX, consolidada por John Maynard Keynes (1883-1946) nos anos 1930, a macroeconomia continua a refletir a economia da moeda metálica.
A partir do início do século XVIII, com a criação dos primeiros bancos centrais e a introdução da moeda bancária, o sistema monetário passou a ser híbrido, isto é, passaram a conviver a moeda metálica emitida pelo Estado com a moeda criada pelos bancos. Com o fim do padrão ouro, na conferência de Bretton Woods, após a Segunda Guerra (1939-1945), a moeda passou a ser exclusivamente fiduciária.
A longa vigência da moeda metálica, como não poderia deixar de ser, pautou o desenvolvimento da macroeconomia, que até hoje não foi revista para incorporar o fato de que a moeda contemporânea é exclusivamente fiduciária e o sistema financeiro cria crédito de forma praticamente irrestrita.
O Estado emissor da moeda fiduciária não tem restrição financeira na jurisdição onde a moeda é aceita. Não precisa de fundos existentes para gastar, porque ao gastar cria os fundos de que precisa. Esse é um corolário lógico da definição de moeda fiduciária. Por ser contraintuitivo e percebido como politicamente perigoso, sofre uma ferrenha oposição dos macroeconomistas hegemônicos. Sobre o tema tenho escrito com frequência.5
A possibilidade da criação de crédito, sem contrapartida de poupança prévia, é mais uma incompreendida decorrência da moeda fiduciária. A lógica da moeda metálica está profundamente enraizada no pensamento macroeconômico. A moeda como um estoque físico e o crédito como indissociável da poupança são concepções que até hoje permeiam o raciocínio hegemônico. Como os conceitos estabelecidos estão profundamente associados a tais concepções, o próprio vocabulário macroeconômico dificulta o entendimento de uma economia baseada na moeda fiduciária.
A macroeconomia, como o arcabouço mental que baliza as políticas públicas, precisa ser compreendida por qualquer pessoa educada. Não pode ficar restrita a um grupo de iniciados que utiliza um dialeto pretensamente científico.
No que se segue, sou obrigado a utilizar a notação da macroeconomia básica para ressaltar o papel da moeda fiduciária e do crédito excluídos da análise tradicional. Peço aos não economistas de formação que não se intimidem, procurem acompanhar o raciocínio e julguem por si mesmos.
Fechada com ociosidade
Assim como a moeda fiduciária depende da credibilidade institucional do Estado, é o fato de que o Estado pode se tornar devedor líquido, pode ter um passivo a descoberto e ainda assim ter sua dívida aceita como meio de pagamento, que viabiliza a expansão do crédito sem prévio aumento de poupança. O ponto fica mais claro se partirmos das identidades macroeconômicas básicas.
Comecemos com o modelo mais simples, o de uma economia fechada, sem relações comerciais com o exterior, onde existem apenas o setor privado e o setor público, ou o Estado. A demanda agregada, ou a absorção doméstica, A, é composta pela demanda para consumo, C, mais a demanda para investimento, I. Suponhamos inicialmente que C e I sejam o consumo e o investimento consolidados dos setores privado e público. A absorção, A, a totalidade dos bens e serviços consumidos e investidos, é dada por
(1) A = C + I
(2)
Na macroeconomia convencional, a renda da oferta de bens e serviços pode ser alocada para o consumo, C, ou pode ser poupada, S, ou seja,
(3) Y = C + S
(4)
Da equação (2), tem-se a definição de poupança: S = Y – C. Poupança é renda não consumida. É preciso que tenha havido produção não consumida para que haja poupança. O papel do sistema financeiro, neste modelo sem crédito puro, é o de mero intermediário entre os que pouparam, ou seja, absorveram menos do que produziram, e os que querem investir, ou seja, absorveram mais do que produziram.
Quando a absorção é igual ao produto, Y = A, há equilíbrio. Das identidades (1) e (2), conclui-se que o equilíbrio exige que o investimento seja igual à poupança,
(5) I = S
(6)
Para entender o que garante o equilíbrio, é preciso estabelecer hipóteses comportamentais para a poupança e o investimento. Aqui a macroeconomia clássica e a de Keynes se separam. Os clássicos, como Keynes chamou os economistas que o antecederam, adotam a chamada teoria dos “loanable funds”, dos fundos disponíveis para empréstimos. Supõem que a taxa de juros é variável que garante o equilíbrio entre a poupança e o investimento. A poupança seria uma função direta, e o investimento, uma função inversa da taxa de juros. Ou seja, a oferta de fundos aumenta e a demanda cai com a alta da taxa de juros. Para os clássicos, é a poupança que viabiliza o investimento. Só pode haver investimento até o limite da disponibilidade de poupança, e é a taxa de juros que garante o equilíbrio entre a oferta e a demanda de fundos para investimento.
A teoria dos “loanable funds” pressupõe a existência de um fluxo de poupança que viabiliza um fluxo de investimento. A taxa de juros equilibra a oferta e a demanda por recursos poupados.
I = I(r), com I´<0 e
S = S(r), com S´>0, onde
I´ e S´ são as derivadas de I e S.
Predominante durante todo o período anterior à Teoria Geral de Keynes, esse é o arcabouço conceitual por trás das teses de que a baixa taxa de juros é resultado de um excesso de poupança. Embora não tenha sido uma possibilidade aventada pelos clássicos, com o excesso de poupança, ainda que a taxa de juros seja nula, como ponto Y¹, inferior ao pleno emprego Y*, no gráfico 1, o investimento pode ser inferior ao requerido para equilibrar o mercado. Num mundo inundado de poupança, onde há um “savings glut”, na expressão em inglês hoje corrente para descrever a situação atual, a taxa de juros pode efetivamente chegar a zero sem equilibrar o mercado de poupança e investimento.
Para Keynes, esta era efetivamente uma possibilidade, pois o investimento não responderia necessariamente a uma taxa de juros baixa. Keynes via o investimento muito mais sensível ao otimismo dos investidores, ao que ele chamou de “animal spirits” dos empresários, do que à taxa de juros.
Além disso, Keynes sustentou que a oferta de fundos poderia não ser canalizada para os investidores, poderia ficar entesourada, ou seja, retida em moeda, sem pressionar adicionalmente a taxa de juros para baixo, uma situação a que ele chamou de armadilha de liquidez.
A ação do Estado é a solução de Keynes para tirar a economia de um equilíbrio perverso, onde a armadilha de liquidez impede a queda adicional da taxa de juros e não estimula o investimento. O Estado deveria aumentar a sua absorção. O gasto público funcionaria como motor de arranque da economia atolada na armadilha de liquidez. Quando há desemprego e capacidade ociosa, o aumento do gasto público, ainda que seja do gasto corrente, aumenta a demanda, que por sua vez estimula a oferta. Ou seja, o gasto público aumenta a renda, que aumenta o consumo e a poupança.
Para Keynes, não é a taxa de juros que equilibra a poupança e o investimento, mas sim o investimento que aumenta a renda e viabiliza a criação da poupança necessária para financiálo. Não é preciso se preocupar com a existência prévia de poupança, pois a poupança irá aparecer se o investimento for feito. Esta é a principal lição da Teoria Geral de Keynes. Ao menos quando a economia está estagnada abaixo do pleno emprego, o gasto público mobiliza recursos ociosos e, a posteriori, cria a poupança necessária para o seu financiamento.
Para Keynes, as hipóteses comportamentais da teoria dos “loanable funds” estavam equivocadas. As funções de investimento e poupança deveriam ser reformuladas. O investimento, como função principalmente do otimismo dos empresários, O, e só marginalmente da taxa de juros, r. A poupança, por sua vez, seria função sobretudo da renda, Y, e só marginalmente da taxa de juros, r.
Quando não há otimismo dos empresários, só o investimento público pode restabelecer o pleno emprego. No gráfico 2, estão as curvas IS, onde S = I. Dada a taxa juros, devido ao baixo nível do otimismo dos empresários, investimento privado, I0, é insuficiente para levar a economia ao pleno emprego. É preciso que o investimento público, IG, eleve o investimento total para I1, = I0 + IG, para que haja pleno emprego, Y1, e a poupança, a posteriori, seja igual ao maior investimento, S1 = I1.
Keynes deixa claro que é a demanda, liderada pelo investimento, que determina a renda e consequentemente a poupança. Sustenta que, a posteriori, a poupança é igual ao investimento, mas que não há necessidade de haver poupança, a priori, para viabilizar o investimento. Essa é a razão pela qual é possível levar a economia de volta ao pleno emprego através do investimento público, mesmo que não haja poupança para financiá-lo. Ainda que o investimento público seja feito sem fundos especificados a priori, isto é, integralmente sustentado pelo aumento do déficit público, o aumento da renda irá garantir a poupança, a posteriori, para viabilizá-lo.
A suposição de que seja preciso poupar, ou seja, de que haja renda não consumida, para que se possa investir, está correta numa economia não monetária a plena capacidade. Numa monocultura agrícola, por exemplo, não consumir parte da produção, para utilizá-la como sementes, é condição para o investimento na próxima safra.
Mas basta que haja capacidade ociosa e um agente capaz de dar crédito para que tal exigência não seja mais verdade. Suponha que a produção seja integralmente consumida, mas que haja um agente com credibilidade suficiente para emitir dívida aceita pelos demais. Um agente com credibilidade suficiente para ser devedor líquido, ter um passivo superior ao seu ativo, sem que isso restrinja a aceitação de sua dívida. Nesse caso, a expansão do crédito “puro”, sem o aumento correspondente da poupança, cria poder aquisitivo. Os tomadores do crédito poderão contratar trabalho e insumos, investir e aumentar a produção, sem que tenha havido aumento da poupança, apenas aumento do crédito.
A todo crédito corresponde um débito equivalente, mas não é necessário que o débito seja feito contra um saldo positivo, contra alguém que tenha poupança prévia. É possível debitar quem não tem poupança, tornando-o um devedor líquido, mas para isso é necessário que o debitado tenha credibilidade para, ainda assim, ter os seus títulos aceitos como forma de pagamento.
O Estado, por deter o monopólio da força e do direito de impor obrigações, enquanto se mantiver institucionalmente organizado, é o agente com credibilidade para ser um devedor líquido. Essa é a razão pela qual a moeda puramente fiduciária é aceita como unidade de conta e meio de pagamento no país que a emite.
Numa sociedade institucionalmente organizada, o poder central, o Estado, é sempre o principal candidato a ter suas promissórias sem lastro aceitas por todos. O Estado é perene, e sua dívida pode sempre ser usada para quitar obrigações com o setor público. Como se sabe, na vida só duas coisas são certas, os impostos e a morte. Haverá sempre uso para a moeda aceita pelo Estado, na pior das hipóteses, para a quitação de impostos. Essa é a tese do economista alemão Georg Knapp (1842-1926), conhecida como o Cartalismo, para a aceitação da moeda fiduciária6.
Keynes sustenta que a poupança é função da renda e que a renda depende da demanda agregada, que por sua vez sempre cria, a posteriori, a poupança para viabilizar o investimento exigido para o pleno emprego. Na Teoria Geral, Keynes continua a raciocinar com uma economia sem crédito, ou mais especificamente, numa economia onde o crédito é necessariamente igual à poupança, pois o sistema financeiro é apenas um intermediário, que canaliza os recursos dos poupadores para os investidores. O sistema financeiro em Keynes, assim como nos clássicos, não é capaz de criar crédito, é um mero intermediário de fundos, só é capaz de dar crédito na proporção da poupança nele depositada.
A confusão decorre da incapacidade de distinguir entre fluxos de poupança e fluxos de crédito. Fluxos de poupança exigem renda não consumida; fluxos de crédito, não. Estes podem ser criados por agentes com credibilidade que lhes permita ser devedores líquidos e continuar a ter seus títulos aceitos como meio de pagamento.
Na Teoria Geral, Keynes sustenta que o sistema bancário não tem como financiar o investimento sem que tenha havido uma poupança correspondente7. Raciocinando sempre com a economia estática e abaixo do pleno emprego, Keynes volta a argumentar que o investimento pode ser feito sem que haja poupança prévia, mas que, ao investir, a renda aumenta e cria, a posteriori, a poupança necessária. A posteriori, sustenta Keynes, o investimento é sempre igual à poupança, mas, para que haja investimento público sem poupança prévia, é preciso que o Estado tenha crédito e seja capaz de se autofinanciar. Essa é a hipótese não explícita em Keynes, sem a qual o seu raciocínio não se sustenta.
Fechada com crédito
Retomemos o modelo simples da economia fechada, mas agora com crédito. Suponha que toda a renda seja consumida, isto é, a absorção é igual à renda, e que não haja investimento, Y = A = C
Não existe, portanto, poupança, definida como renda não consumida, S = Y – C = 0
Mas suponhamos que exista crédito, ou financiamento, F, dado por um agente que tenha credibilidade para que suas notas de dívida, suas promissórias, sejam aceitas por todos como meio de pagamento. Embora a poupança seja nula, pois C = Y, é possível que haja investimento. A absorção, A, será dada por
A = C + I = Y + F
No caso da economia fechada, como o analisado por Keynes, o crédito permite o aumento da renda porque há recursos ociosos. É o aumento da renda até o pleno emprego, e consequentemente, da poupança, que permite dizer que, a posteriori, houve um aumento de poupança correspondente ao investimento. Quando Keynes sustenta que o investimento público pode ser feito sem contrapartida de receita tributária, que o resultado será o aumento da renda em direção ao pleno emprego, ele está argumentando, embora de forma implícita, que o Estado é o agente com credibilidade para conceder crédito sem lastro e financiar o seu próprio investimento.
Na economia sem crescimento, com a renda abaixo do pleno emprego, da análise de Keynes, tanto o aumento do gasto corrente como do investimento aumentam a renda de equilíbrio. Qualquer um deles é capaz de reanimar a economia com capacidade ociosa. Essa é a razão pela qual Keynes sustenta que os gastos públicos, ainda que contratando pessoas para abrir e fechar buracos, irão funcionar como o motor de arranque da economia. O problema analisado por Keynes é o da insuficiência de demanda, todo aumento de demanda, qualquer que seja ele, mesmo através de gastos improdutivos, será capaz de quebrar a estagnação de uma economia com capacidade ociosa.
O caso de uma economia sem capacidade ociosa, na qual seja necessário investir para ampliar a capacidade produtiva, a expansão do crédito para financiar o consumo não leva ao crescimento e pode provocar pressões inflacionárias. Já a expansão do investimento, aumentando a capacidade de produção, pode fazer sentido. A condição é que o retorno do investimento seja superior à taxa de juros do financiamento. Esta é a garantia de que o agente que concedeu o crédito, sem contrapartida de uma poupança prévia, ou seja, tornando-se devedor líquido, voltará a ter seu balanço superavitário com a materialização do investimento.
Na nomenclatura de Keynes, a condição é que a eficiência marginal do capital, EMK, seja superior à taxa de juros. O ponto ilumina a razão pela qual, apesar de não ter restrição financeira, ou seja, não precisar de recursos financeiros existentes para gastar, o Estado não pode tudo. Quando próximo do pleno emprego, o gasto corrente pode provocar pressões inflacionárias e o investimento público precisa ter retorno superior ao custo de sua dívida.
No gráfico 3, desde que a expansão do crédito seja para financiar o investimento, F1 = I1, e a taxa de juros seja inferior ao retorno do investimento, r<EMK1, o resultado será o aumento da renda de Y0 para Y1. O aumento do crédito leva ao aumento do investimento, que aumenta a capacidade instalada e leva a renda a crescer mais do que o custo do crédito.
Crédito público e privado
O Estado institucionalizado e capaz de impor obrigações tributárias é o devedor/credor por excelência numa economia fechada. O seu valor presente redescontado, VPR, é altamente positivo, ainda que deficitário, com despesas superiores às receitas, no curto prazo8.
O Estado pode sempre conceder crédito, tanto para financiar os seus investimentos, quanto para financiar investimentos privados. Mas o Estado não é o único agente capaz de criar crédito puro, isto é, de conceder crédito sem contrapartida de poupança. Também o sistema bancário pode expandir o crédito. Ao contrário do que reza a macroeconomia convencional, o sistema bancário não depende de depósitos do público para dar crédito.
Na macroeconomia até hoje ensinada na grande maioria das universidades, o sistema bancário, porque funciona com reservas fracionárias, isto é, só precisa manter uma fração dos depósitos como reservas, é capaz de expandir o crédito, criando poder aquisitivo.
A expansão do crédito bancário seria viabilizada pelo multiplicador bancário, que é uma função decrescente da proporção dos depósitos mantidos como reservas. O multiplicador bancário abre uma exceção ao pressuposto de que não pode haver expansão de crédito sem prévia expansão de poupança. Ao presumir que os depósitos do público não serão todos resgatados simultaneamente, permite-se aos bancos a criação de crédito além da poupança depositada. A macroeconomia ainda hoje hegemônica não entende que os bancos podem conceder, e efetivamente concedem, crédito independentemente do que captam como depósitos.
Os bancos emprestam quando entendem que têm tomadores cuja combinação de risco e retorno é aceitável. O custo do seu passivo, ou seja, do capital próprio e da tomada de recursos no interbancário, somado ao prêmio de risco do tomador, é o que determina a decisão da concessão de crédito. Como os bancos têm contas no banco central, que remunera as reservas bancárias à taxa básica, essa é a referência de custo de oportunidade para os bancos. A taxa básica, paga nas reservas bancárias no BC, é o custo de oportunidade, o retorno do investimento sem risco, que baliza toda a estrutura de taxas no mercado financeiro.
Como a taxa básica é o principal instrumento de política monetária, ao fixá-la, o BC torna-se obrigado a conceder ou tomar todo o volume de reservas demandado ou ofertado pelos bancos, sob pena de perder o controle de seu instrumento de política. Portanto, a oferta de reservas pelo BC é passiva, infinitamente elástica à taxa básica de juros fixada por ele.
Porque têm sempre acesso às linhas de empréstimos de reservas do BC, os bancos não têm restrição de fundos. O que restringe a expansão do crédito bancário não são os depósitos do público, ou seja, a existência de poupança, mas sim o grau de otimismo e de confiança nos tomadores de empréstimos e as limitações, legais e administrativas, à alavancagem dos bancos.
Mais uma vez, é preciso distinguir o crédito puro, sem contrapartida prévia de poupança, do crédito baseado na poupança. Enquanto este é uma mera transferência de poder aquisitivo, dos que optaram por não consumir para os que querem consumir ou investir além de suas rendas, o crédito puro é uma criação líquida de poder aquisitivo.
Quando há criação de crédito puro, não é necessário que alguém deixe de exercer integralmente o poder aquisitivo que lhe concede sua renda para que outro possa consumir e investir além de sua renda. Basta que haja um agente com credibilidade para ser um devedor líquido. Esse agente é o Estado institucionalizado e com legitimidade para cobrar impostos.
É o uso legítimo da força e o direito de impor obrigações que dá ao Estado a condição de conceder crédito puro e criar poder aquisitivo. É importante compreender que, embora o sistema bancário também possa dar crédito e criar poder aquisitivo sem contrapartida de poupança, essa faculdade advém do fato de que os bancos têm acesso ao crédito do banco central. O crédito puro, sem contrapartida de poupança, embora tenha sempre o Estado como credor de última instância, pode e é efetivamente criado por aqueles que têm acesso garantido ao crédito do Estado, como é o caso do sistema bancário.
Porque têm acesso automático ao crédito do BC, os bancos têm uma espécie de franquia para dar crédito puro e criar poder aquisitivo. Essa franquia data da criação dos bancos centrais.
Inicialmente privados, os bancos centrais desvincularam a expansão do crédito puro do aumento do passivo do Estado. Nas economias medievais da Europa, a única fonte de crédito e de liquidez era o déficit do poder central. Só o déficit do Estado criava crédito e irrigava a economia com liquidez monetária. Por mais conspícuos e estapafúrdios que fossem os gastos dos monarcas e suas cortes, a inexistência de crédito e a iliquidez monetária foram sempre uma trava à expansão das economias medievais.
Na Inglaterra, a experiência dos chamados “tallies”, registros esculpidos em tiras de madeira, precursores da moeda fiduciária moderna, cumpriram durante quase três séculos, da metade do século XIV até o final do século XVI, o papel de acrescentar liquidez à economia regida pela moeda metálica9. Com a criação do Banco da Inglaterra, no final do século XVII, autorizado a emitir notas bancárias lastreadas em dívida pública, estava criada a franquia que dá aos bancos a faculdade de dar crédito puro.
Sem moeda fiduciária própria, o Estado fica restrito na sua capacidade de conceder crédito puro. Restrito na capacidade de emitir moeda pela exigência do lastro metálico, o passivo do Estado corre sempre risco de não poder ser honrado no seu vencimento.
Porque restringe a possibilidade de concessão de crédito puro pelo Estado, a moeda metálica restringe a liquidez da economia e introduz o risco de inadimplência na dívida pública. Sem a faculdade de emitir moeda, restrita pela disponibilidade do lastro metálico, a dívida corre risco de não poder ser honrada. A possibilidade de default da dívida, somada à iliquidez crônica, praticamente inviabilizavam a expansão do crédito pelo Estado. Dada a severa restrição de crédito interno, o Estado era obrigado a recorrer a credores externos que tinham acumulado prata e ouro.
Na vigência da moeda metálica, tanto o Estado quanto o sistema bancário dependem de poupança acumulada em moeda metálica para conceder crédito. Esta é a razão pela qual a macroeconomia, inspirada na economia da moeda metálica, continua a não incorporar a possibilidade da expansão do crédito, com criação de poder aquisitivo, sem a existência de poupança prévia.
Só o Estado emissor da moeda fiduciária tem a capacidade de criar poder aquisitivo através da concessão de crédito puro, baseado na expansão de seu passivo a descoberto, assim como o de garantir o sistema bancário como emprestador de última instância.
Aberta com crédito
Examinemos finalmente o caso de uma economia aberta, onde X e M são as exportações e as importações. Suponha que G são os gastos do governo e T, os impostos. As identidades (1) e
(2), respectivamente da absorção doméstica e do poder aquisitivo, são reescritas como:
(1´) A = C + I + M – X + G e
(2´) Y = C + S + T + F
Para simplificar, sem prejudicar o argumento, suponha-se que todo o investimento é financiado pela expansão do crédito puro, ou seja, não há poupança interna, S = 0. Nesse caso, as identidades podem ser reescritas como:
(1´´) A = C + I + M – X + G e (2´´) Y = C + F + T
A absorção é igual ao consumo, mais o investimento, mais o déficit comercial, (M – X), mais o gasto do governo, G. A renda, ou o poder aquisitivo, é igual ao consumo mais a expansão do crédito, mais os impostos, T. De (1´´) e (2´´), conclui-se que quando a absorção é igual ao poder aquisitivo, A = Y, tem-se que o crédito interno é igual ao investimento mais o déficit externo e o déficit público
F = I + (M – X) + (G – T)
Se não houver investimento, I = 0, nem déficit público, (G -T) = 0, então, F = (M – X). A expansão do crédito se transforma integralmente em déficit externo. No nosso modelo simplificado não há ativos financeiros externos, mas a expansão do crédito pode também se converter em déficit na conta capital com a aquisição de ativos financeiros externos.
É importante notar que só é possível ter déficit externo, tanto na conta comercial quanto na conta capital, se o exterior aceitar o crédito interno. Esse é o caso de países que emitem uma moeda reserva internacional, como é o caso dos Estados Unidos hoje. Para todos os demais, só é possível incorrer em déficit externo se houver crédito externo. O crédito interno tem que ter lastro no crédito externo, na proporção do déficit das contas externas.
Alternativamente, sem acesso à poupança externa, quando há equilíbrio nas contas externas, (M – X) = 0, então o crédito interno é igual ao investimento mais o déficit público.
F = I + (G – T)
O ponto relevante é que, mesmo que não haja poupança interna nem externa, o crédito interno financia o investimento, I, e o déficit público, (G – T).
Suponha-se que o investimento privado aumente a capacidade produtiva, mas que o déficit público seja integralmente composto por gastos correntes. Se houver capacidade ociosa, a situação examinada por Keynes, é indiferente se o crédito financia o investimento ou o consumo do governo, pois ambos irão aumentar a absorção doméstica, levando ao aumento da produção e da renda.
Perto do pleno emprego, a situação muda. O déficit corrente do governo pressiona a capacidade instalada, mas como não há investimento, pode provocar pressão inflacionária. O mais provável é que antes provoque déficit externo, com o excesso de demanda extravasando para as importações. No caso do país que não emite uma moeda reserva, sua divisa irá se desvalorizar e elevar a expectativa de inflação.
Do ponto de vista de uma política antirrecessiva, é indiferente se o crédito financia gastos correntes ou o investimento, mas se o objetivo é o crescimento, com manutenção do equilíbrio externo e sem pressões inflacionárias, o crédito deve financiar o investimento. As condições adicionais são de que o retorno do investimento, EMK, seja superior à taxa de juros, r, e que o crescimento não provoque um déficit externo. Respeitadas essas condições, a relação dívida PIB irá convergir e não se correrá risco de depender do crédito externo.
É a dívida externa, expressa em moeda estrangeira, que pode vir efetivamente a não ser refinanciada se houver uma mudança de humor dos credores externos. Daí a expressão “o pecado original” da literatura associada ao endividamento externo em moeda estrangeira, que pode provocar “paradas súbitas” do crédito, provocando crises dramáticas, como as sofridas pelos países em desenvolvimento com dívida externa, no último quarto do século XX.
Inflação de ativos
Retomemos a hipótese de Keynes, de que o investimento é pouco sensível à taxa de juros. É guiado sobretudo pelo otimismo dos empreendedores. Suponhamos que o otimismo ande em baixa e o investimento, para simplificar, seja nulo, I = 0. Nesse caso, tem-se F = (M -X) + (G – T)
O crédito provoca déficit externo e nas contas públicas, uma configuração perfeita para crises de balanço de pagamentos e inflacionárias, como as pelas quais passaram os países em desenvolvimento, nas últimas décadas do século passado.
O quadro muda para uma economia emissora da moeda reserva mundial, onde déficit público (G -T) não seja provocado por gastos correntes, mas sim por compras de ativos existentes. Esse é o caso do “quantitative easing”, praticado pelos EUA. O QE é uma expansão de crédito público para compra de ativos carregados pelo setor financeiro. Não aparece contabilizado como déficit do Tesouro, porque é integralmente baseado na expansão do passivo monetário do banco central, mas é déficit do setor público consolidado. O QE é crédito puro criado diretamente pelo BC.
A taxa de poupança americana está em queda há anos e chegou a ser ligeiramente negativa na segunda metade do ano passado10. Como o dólar é uma moeda reserva, aceita no mundo todo, a expansão de crédito puro americano, F, pode e tem efetivamente financiado o déficit externo do país.
Mas assim como a taxa de poupança, também o déficit externo americano tem se reduzido nos últimos anos. A expansão do crédito interno americano, através do QE, é sobretudo utilizada para compra de ativos financeiros existentes, títulos de dívida ou ações, tanto no país quanto no exterior.
Embora a macroeconomia convencional considere que os fluxos de capitais estejam associados ao financiamento dos déficits externos (M – X), a verdade é que os fluxos financeiros internacionais são muitas vezes superiores aos fluxos de comércio.
Em 2005, quando pela primeira vez Ben Bernanke falou num excesso mundial de poupança, um “savings glut”, o superávit consolidado dos países superavitários nas contas externas – os que teriam excesso de poupança – era de apenas 2,5% do PIB mundial. Para efeito de comparação, o fluxo internacional de capitais financeiros estava próximo de 30% do PIB mundial. Podemos considerar, sem falsificar a realidade, que (M – X) é irrelevante no quadro da expansão de crédito associada ao QE. Logo, F = (G- T) = B
onde B é a demanda por ativos financeiros, como ações, títulos de dívida e de propriedade imobiliária.
Trata-se de um déficit público, (G -T), financiado pela expansão de crédito puro, F, de um país que tem sua moeda aceita como reserva internacional. Porque não está associado ao investimento público, nem ao gasto corrente, ou seja, à compra de bens e serviços, mas sim à compra de ativos financeiros, não pressiona a inflação, nem provoca déficit comercial. Provoca déficit na conta capital com o aumento do fluxo internacional de capitais e a valorização dos ativos financeiros11.
Qualidade do gasto
Depois da grande crise financeira de 2008, o experimento heterodoxo do QE deveria ter acentuado as possibilidades e os riscos da moeda fiduciária. Deveria ter levado a uma revisão da macroeconomia, com a aposentadoria definitiva dos fantasmas da moeda metálica. Não foi o que ocorreu.
A preocupação com a fonte de financiamento dos gastos públicos, a obsessão com o equilíbrio fiscal, voltou a dominar a macroeconomia e o debate de políticas públicas. A tese de que é sempre preciso equilibrar o orçamento para que a economia não se precipite num “abismo fiscal” tornou-se o mantra da ortodoxia macroeconômica. A tese não é nova, muito pelo contrário, conhecida como “The Treasury View”, na Inglaterra do primeiro quarto do século XX, foi contestada e aposentada pela crítica de Keynes na Teoria Geral.
Como demonstrou Keynes, em certas circunstâncias, o déficit público é necessário para reativar a economia. A lição esquecida de Keynes continua mais importante do que nunca, num mundo paralisado pela pandemia. Mas há novos elementos a serem compreendidos e incorporados ao arcabouço conceitual da macroeconomia. Quando a moeda é fiduciária não é o tamanho, mas sim a forma e a qualidade do déficit que importam.
A obsessão com as fontes de recursos erra o alvo. O importante é saber como, onde e quando gastar, não como financiar os gastos. Talvez porque essa tarefa, a verdadeira responsabilidade fiscal, não seja simples, pois exige conhecimento e trabalho, opta-se por defender um burocrático equilíbrio contábil como sinal de boa prática fiscal.
Além de condenar a economia à estagnação e, dada a pandemia, parte da população à miséria, a ortodoxia fiscalista é também incapaz de compreender as consequências e os riscos de uma expansão de crédito, da magnitude do QE, dirigida para a aquisição de ativos financeiros. Tão preocupada com o equilíbrio fiscal, a macroeconomia hegemônica é incapaz, ou não quer, compreender que o QE é um déficit público financiado pela expansão monetária do crédito público.
O déficit provocado pelo QE, que sintomaticamente não é computado nas estatísticas de déficit público, ao inundar de liquidez o mercado para a compra de ativos financeiros, fazendo F = (G – T) = B, não estimula o investimento, I, nem a demanda, A. Não corre risco de provocar desequilíbrio externo, (M – X), nem pressão inflacionária, mas provoca a inflação de ativos financeiros e, consequentemente, a concentração da riqueza.
Preocupados com a guerra vencida da inflação de bens e serviços, os economistas hegemônicos não conseguem compreender os riscos da inflação de ativos e da absurda concentração de riqueza provocados pelo QE. Serram trincheiras numa Linha Maginot fiscal, enquanto a economia continua estagnada e a concentração de riqueza põe a democracia em risco.
1 – Agradeço aos comentários de Simone Deos, Antonio Carlos Barbosa de Oliveira, Luís Orenstein, Marcelo Medeiros, José Pio Borges, Candido Bracher e a assistência de Marina Liuzzi, sem evidentemente comprometê-los com os argumentos aqui expostos.
2 – Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff, This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, 2009
3 – Jason Furman e Lawrence Summers, “A Reconsideration of Fiscal Policy in an Era of Low interest Rates” No. 30, 2020
4 – James K. Galbraith, “A Response to Jason Furman and Lawrence Summers Reconsideration of Fiscal Policy”, Institute of New Economic Thinking, INET, University of Texas at Austin, Dec.7, 2020.
5 – Ver Lara Resende, André, Consenso e Contrassenso, Portfolio Penguin, 2019
6 – Knapp, G.F. The State Theory of Money, Londres: Macmillan&Co. 1924
7 – Ver Keynes, J. M. A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, cap.7 seção iv
8 – Ver Lara-Resende, A. “Mudança de Paradigma”, Caderno Eu&, Valor Econômico, 11/12/2020
9 – Ver Lara Resende, A. 2019, op.cit. e Desan, Christine, Making Money: Coins, Currency and the Coming of Capitalism, Oxford University Press, 2014
10 – Ver Roach, S. no Financial Times, citado em Free Exchange, The Economist, 28/11/2020
11 – Ver Claudio Borio e Piti Disyatat, BIS; Michael Kumhof, Bank of England; Andrej Sokol, European Central Bank; Phurichai Rungcharoenkitkul, BIS.
ARTIGO197